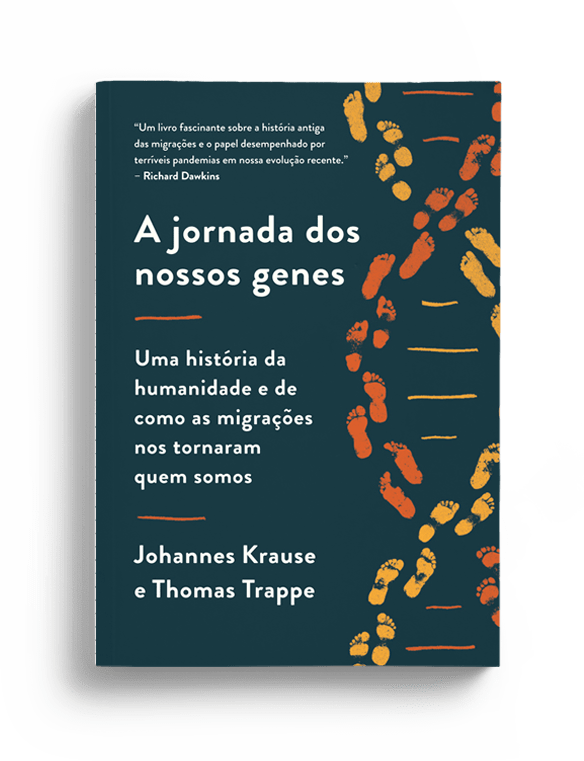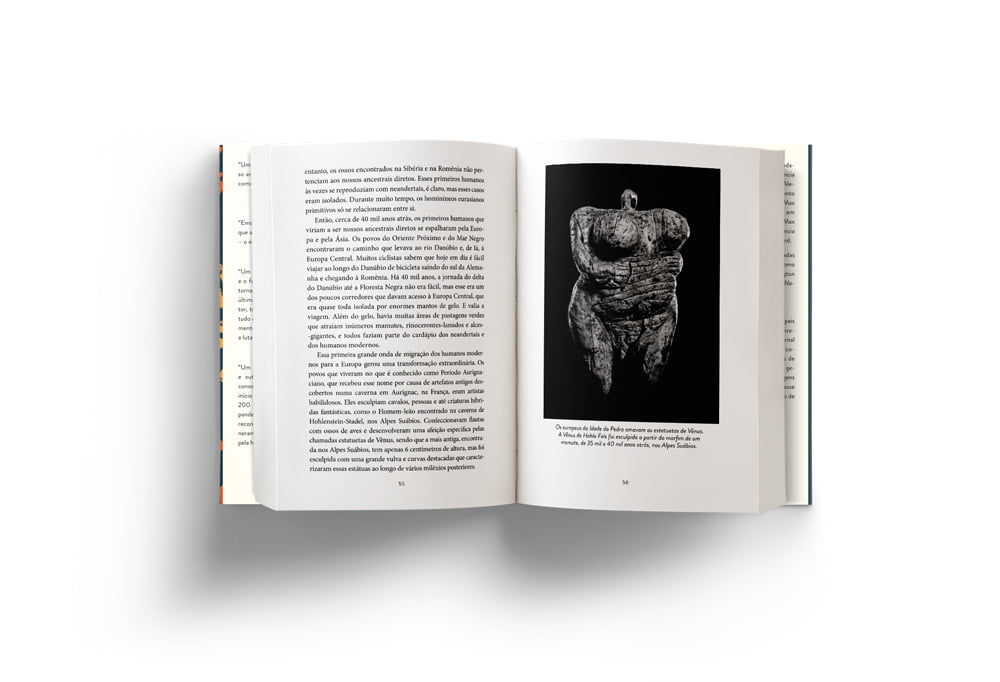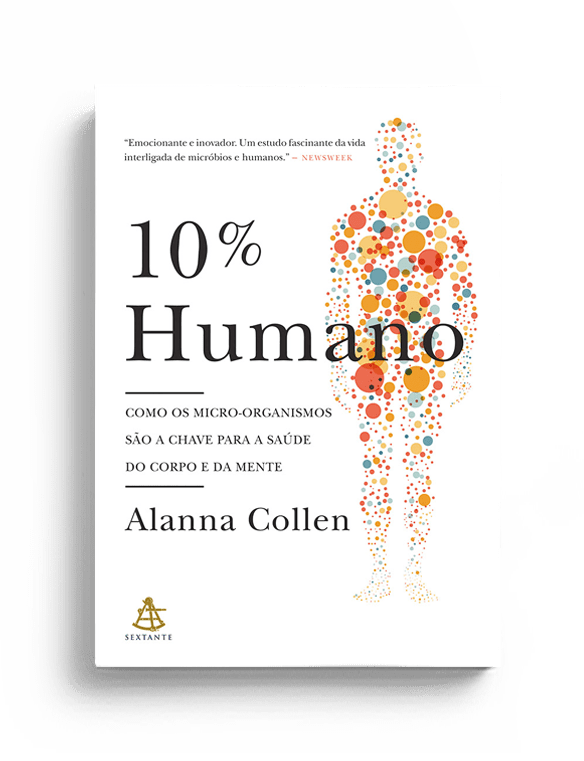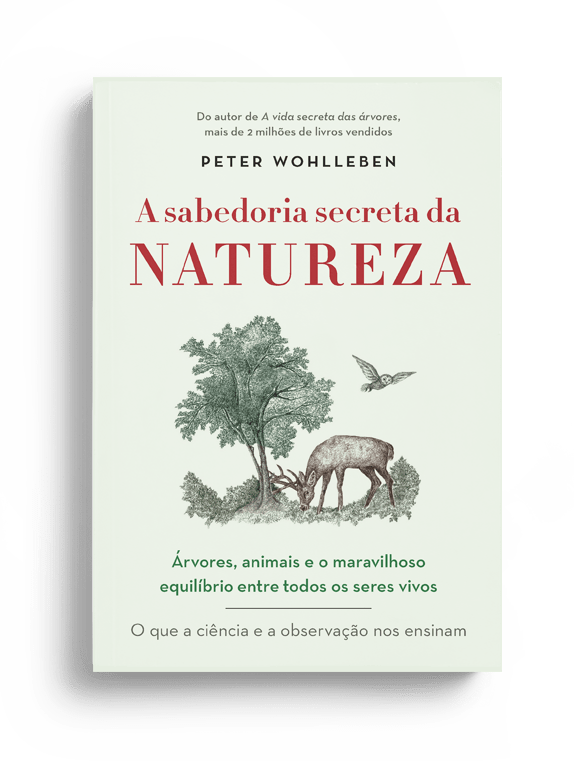Introdução
Depois da pandemia, nada será como antes. Uma doença até então desconhecida assolou a Europa como uma tempestade, e, em todos os lugares por onde passou, sistemas sociais inteiros foram profundamente alterados. A humanidade já conhecia o poder brutal dos patógenos. Há 4.800 anos, uma doença começou no leste e transformou quase por completo a estrutura genética das pessoas que viviam na Europa; os europeus orientais dominaram o continente e basicamente deram início à Idade do Bronze. Essa doença era a peste. É possível que tenha afligido a Europa pela primeira vez na Idade da Pedra, e muitas vezes provocou terríveis devastações no decorrer da sua história subsequente, e cada surto foi pior que o anterior. Mesmo naquela época, as pessoas tentavam conter a peste bloqueando fronteiras, implementando quarentenas e fechando o comércio. Embora não conhecessem a causa da doença, todos puderam observar seu alastramento de perto. Por exemplo, em Veneza, uma grande potência econômica da época, o comércio quase parou na Idade Média. Inúmeras pessoas morreram nas ruas, e o número de mortos só foi revelado recentemente pelas valas comuns. Até pouco tempo, esperava-se que a história jamais se repetisse. Mas, em 2020, foram transmitidas para todo o mundo imagens de caminhões transportando as vítimas da covid-19 para crematórios e valas comuns – em Bérgamo, Nova York e outras cidades.
Levamos quase 5 mil anos apenas para descobrir a existência da peste na Idade da Pedra. Munidos de uma tecnologia revolucionária, reduzimos ossos antigos a pó e destilamos de seu DNA as histórias que contaremos neste livro. A arqueogenética, um jovem ramo da ciência, usa métodos desenvolvidos no campo da medicina para decodificar genomas primitivos, sendo que alguns têm milhares de anos. Esse campo começou a ganhar impulso há pouco tempo, mas sua contribuição para a nossa reserva de conhecimento é inestimável. Usando ossos humanos de um passado distante, é possível identificar não só os perfis genéticos dos mortos, mas também o modo como seus genes se espalharam pela Europa – em outras palavras, é possível descobrir quando os nossos antepassados chegaram e de onde eles vieram. Agora também somos capazes de filtrar o DNA de bactérias que provocam doenças fatais – não só a praga – do sangue seco presente em dentes com centenas de milhares de anos. Graças à arqueogenética, a história e a trajetória das doenças na Europa podem ser recontadas de forma inédita. E acontece que duas das grandes questões que o mundo tem enfrentado hoje em dia são constantes na história da humanidade: pandemias fatais e migrações constantes.
Quando este livro foi publicado pela primeira vez, em fevereiro de 2019, a discussão política na Alemanha ainda era marcada pela crise dos refugiados de 2015. A atenção dos leitores e da imprensa estava voltada principalmente às passagens que giravam em torno das evidências arqueogenéticas das inúmeras ondas de migração no mundo e da constante troca genética entre os nossos ancestrais. Agora, pouco mais de um ano depois, enquanto o mundo inteiro ainda sofre as consequências do impiedoso SARS-CoV-2, essa crise específica saiu um pouco da mira dos holofotes, apesar das inúmeras jornadas precárias feitas por imigrantes todo dia. Ainda que não se possa comparar o novo coronavírus à peste, muito mais mortal, é possível estabelecer um paralelo: patógenos invisíveis sempre foram capazes de fazer com que, da noite para o dia, sociedades inteiras passassem de um sentimento de invulnerabilidade a outro de impotência paralisante. Ninguém sabe, até hoje, quais serão as consequências da atual pandemia para a humanidade. Neste livro, no entanto, mostraremos o impacto que esses eventos tiveram sobre os primeiros habitantes da Europa. Seria pretensioso demais tirar conclusões de âmbito político e aplicá-las ao momento atual – essa não é a tarefa da arqueogenética –, mas podemos ajudar a elucidar algumas coisas. Podemos tentar entender o mundo pelo que ele é: um local de progresso que se estendeu por milhares de anos, um progresso que, sem a migração e a mobilidade humanas, teria sido impossível. De tempos em tempos, as populações se fortaleceram com a adversidade, mesmo depois de pandemias catastróficas. Não é segredo que, pelo menos nesse sentido, esperamos que a história se repita.
As páginas iniciais deste livro exploram as grandes ondas migratórias que moldaram a Europa desde seus tempos mais remotos, além das ondas que começaram lá e fundaram o mundo ocidental. Entre outras coisas, vamos falar da sempre presente rota dos Bálcãs e dos conflitos que acompanham as migrações desde tempos imemoriais. Vamos explicar por que os primeiros europeus tinham a pele escura e por que, por meio de análises do DNA, é possível situar indivíduos europeus em um mapa, mas não é possível delimitar geneticamente grupos étnicos – muito menos suas nacionalidades. Traçamos um arco desde a Era do Gelo, quando a jornada genética dos europeus começou, até os tempos atuais, em que estamos prestes a tomar as rédeas da evolução. Este livro busca abordar não apenas controvérsias políticas, mas também as contribuições da arqueogenética para o nosso entendimento da história da Europa.
Essas novas informações não oferecem respostas definitivas. Os imigrantes moldaram, sim, a Europa, e não há dúvida de que as agitações resultantes provocaram muito sofrimento – para os caçadores-coletores, por exemplo, que foram expulsos pelos agricultores anatolianos. E é verdade que a história da migração também sempre foi a história das doenças fatais. Sabemos que as pessoas a favor da migração encontrarão argumentos para apoiar suas crenças, assim como aqueles que defendem um controle rígido nas fronteiras. Nossa esperança é que, após a leitura, ninguém tenha dúvida de que a mobilidade faz parte da natureza humana. O ideal é que os leitores sejam persuadidos de que, no futuro, uma abordagem global da sociedade – testada ao longo de milhares de anos – também será a chave para o progresso. Os tempos que estamos vivendo colocaram a mobilidade – com todas as suas complicações – sob uma poderosa lupa. Por um lado, o alastramento da covid-19 teria sido impensável sem ela. Por outro, impor limitações de grande escala à migração por apenas algumas semanas levou a uma crise social e a um colapso econômico cujos efeitos no mundo todo serão sentidos na nossa vida cotidiana durante anos.
Dois autores trabalharam neste livro. O primeiro é Johannes Krause, a quem caberá o papel do narrador em primeira pessoa a partir do próximo capítulo. Ele é um dos especialistas internacionais mais qualificados no campo da arqueogenética (e, por uma questão de modéstia, foi o outro autor quem escreveu esta introdução), além de ser diretor do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, na Alemanha. Seu coautor, Thomas Trappe, recebeu a tarefa de condensar todo o conhecimento de Krause numa narrativa compacta e de trazer esse conhecimento para o presente e incorporá-lo aos debates políticos atuais. Trappe já colaborou com Krause várias vezes; também publicou artigos sobre nacionalismo e ideias populistas contemporâneas. Ao longo de muitas conversas, os dois autores perceberam que queriam escrever um livro que unisse a ciência aos debates atuais.
Gostaríamos de começar com um rápido passeio pelos fundamentos da arqueogenética – e com um osso de dedo que alterou o curso do conhecimento científico e a carreira científica de Krause. Para nossa surpresa, o osso nos apresentou a um novo tipo de hominíneo, revelando indiretamente a afinidade entre os primeiros europeus e os neandertais. Decidimos começar a nossa curta história da humanidade com essa descoberta improvável.
Johannes Krause e Thomas Trappe
Berlim, junho de 2020.
C A P Í T U L O 1
Nasce uma nova ciência
Um dedo siberiano aponta para o novo humano primitivo. Nasce a arqueogenética. Os geneticistas se sentem numa corrida do ouro com seus novos brinquedos reluzentes. O filme Parque dos Dinossauros deixa todo mundo enlouquecido. Sim, todos nós somos parentes distantes de Carlos Magno. Adão e Eva não viveram juntos. O neandertal revela um erro.
Um osso em cima da mesa
A ponta de dedo que encontrei em cima da minha mesa em uma manhã do inverno de 2009 não era nada mais do que um lamentável resto mortal. Não tinha unha nem pele, era só a ponta da falange distal, não muito maior do que um caroço de cereja. Como descobri depois, pertencia a uma menina de 5 a 7 anos. A ponta estava dentro de um envelope acolchoado comum e vinha de muito longe, de Novosibirsk. Nem todos ficariam felizes se encontrassem pedaços de corpos decepados vindos da Rússia antes mesmo do café da manhã. Mas eu fiquei.
Quase uma década antes, em 2000, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, fez um comunicado à imprensa na Casa Branca: depois de anos de trabalho e bilhões de dólares investidos no Projeto Genoma Humano, nossos genes finalmente tinham sido sequenciados. O projeto, que tinha começado dez anos antes, em 1990, era a primeira tentativa de pesquisa científica internacional para sequenciar todos os genes da nossa espécie – conhecidos como genoma humano. Esse momento continua sendo um dos mais ambiciosos e inovadores da história da ciência. O DNA virou manchete no mundo todo. Um dos maiores jornais alemães abriu espaço em suas páginas para imprimir a sequência do genoma humano: uma cadeia infinita de pares das bases A, T, C e G que compõem o DNA. Muitas pessoas descobriram a importância da genética, acreditando que o DNA lhes permitiria ler os seres humanos como se lê uma planta baixa.
Em 2009, a ciência já estava muito mais perto de alcançar esse objetivo. Nessa época, eu estava fazendo meu pós-doutorado no Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva (MPI-EVA), em Leipzig. O instituto era referência mundial para cientistas que queriam sequenciar o DNA de ossos antigos com a ajuda de uma tecnologia de ponta. Pesquisas genéticas extensivas tinham sido realizadas lá ao longo de mais de uma década, sem as quais o osso de dedo encontrado na minha mesa nunca poderia ter sido usado para mudar a nossa compreensão da história da evolução humana. O osso, descoberto na Sibéria, é parte dos restos mortais de 70 mil anos de idade de uma menina que tinha uma forma hominínea primitiva até então desconhecida. Isso nos foi revelado por alguns miligramas de pó de osso, com a ajuda de uma máquina de sequenciamento altamente complexa. Apenas alguns anos antes, teria sido tecnicamente impensável descobrir, por meio de um fragmento tão minúsculo, a quem ele pertencia. Mas não foi só isso que a lasca de osso nos revelou. Por meio dela também descobrimos o que nós, seres humanos vivos hoje em dia, temos em comum com essa garotinha e em que medida somos diferentes.
Um bilhão por dia
A ideia do DNA como uma planta baixa já é conhecida há mais de cem anos. Em 1953, usando o trabalho pioneiro da química britânica Rosalind Franklin, o biólogo americano James Watson e o físico britânico Francis Crick descobriram a estrutura do DNA. Nove anos depois, ambos receberam o Prêmio Nobel de Medicina (a essa altura, Franklin já havia falecido prematuramente aos 37 anos). Desde então, a comunidade médica impulsionou a pesquisa do DNA que acabou levando ao Projeto Genoma Humano. Outro passo decisivo para a decodificação ou leitura do DNA foi o desenvolvimento da reação em cadeia da polimerase na década de 1980. Esse processo permite determinar a ordem dos pares de bases de uma molécula de DNA e é indispensável para as máquinas de sequenciamento atuais. Desde a virada do século, as máquinas de sequenciamento vêm evoluindo rapidamente. Se compararmos o velho computador Commodore 64 com um smartphone atual, teremos uma ideia da velocidade com que a tecnologia também avançou no campo da genética.
Alguns números podem nos dar uma ideia da escala do que estamos discutindo quando falamos de sequenciamento do DNA. O genoma humano consiste em 3 bilhões de pares de bases. Em 2003, quando o Projeto Genoma Humano chegou ao fim, teriam sido necessários mais dez anos para decifrar as informações genéticas de um ser humano específico. Hoje, no nosso laboratório, conseguimos decifrar 1 bilhão de pares de bases num único dia. Nos últimos 12 anos, a produção de dados das máquinas aumentou centenas de milhões de vezes, de modo que uma única máquina consegue decodificar o impressionante número de trezentos genomas humanos por dia. Em dez anos, os genomas de milhões de pessoas no mundo terão sido decodificados com algum grau de certeza, e até hoje o desenvolvimento tecnológico das máquinas tem sido sistematicamente subestimado. Está cada vez mais rápido e econômico sequenciar um DNA e, em breve, será uma opção para quase todo mundo. O mapeamento do DNA hoje pode custar até menos que um hemograma completo, então é fácil imaginar que em breve será rotina os pais pedirem o genoma decodificado de seus recém-nascidos. O sequenciamento do DNA oferece possibilidades nunca imaginadas – a detecção precoce de predisposições genéticas para determinado tipo de doença, por exemplo –, e esse potencial continua aumentando.
Enquanto a medicina tenta entender melhor as doenças e desenvolver novos medicamentos e terapias ao decodificar os genomas de pessoas vivas, os arqueogeneticistas estão usando a tecnologia para analisar achados arqueológicos. Ossos, dentes ou amostras de solo antigos podem ajudar os arqueogeneticistas a descobrir as origens e os relacionamentos genéticos de seres humanos há muito falecidos. Esse trabalho abriu possibilidades totalmente novas no campo da arqueologia, que agora já não precisa se basear inteiramente em teorias e interpretações, mas, por exemplo, em identificar padrões migratórios com uma precisão sem precedentes. Para a arqueologia, a capacidade de decodificar o DNA primitivo é tão relevante quanto outra revolução tecnológica que ocorreu na década de 1950: a datação de achados arqueológicos por radiocarbono. Esse procedimento foi a primeira ferramenta que possibilitou que os cientistas datassem restos mortais humanos com segurança, mas não com o ano exato. A tecnologia do DNA permite que os arqueogeneticistas leiam fragmentos de esqueletos e identifiquem conexões desconhecidas até mesmo por aqueles a quem os ossos pertenciam. Os restos mortais de seres humanos que estavam debaixo da terra, muitos desses há dezenas de milhares de anos, se transformaram em valiosos mensageiros do passado. As histórias dos nossos antepassados estão escritas nesses fragmentos – histórias que contaremos neste livro, algumas pela primeira vez.
Mutantes humanos
Um dos pioneiros mais importantes da arqueogenética é Svante Pääbo, diretor do MPI-EVA, em Leipzig, desde 1999. Formado em medicina, durante o doutorado na Universidade de Uppsala, na Suécia, em 1984, Pääbo extraiu o DNA de uma múmia egípcia no laboratório. Em 2003, Pääbo me aceitou como orientando em Leipzig. Quando, dois anos depois, eu estava escolhendo um tema para minha tese de doutorado, ele sugeriu que eu trabalhasse com ele para ajudá-lo a decodificar o genoma dos neandertais. Na verdade, a ideia era uma loucura: no ponto em que a tecnologia se encontrava na época, esse empreendimento levaria décadas. Além do mais, teríamos que moer dezenas de quilos de preciosos ossos de neandertais. Mas eu confiava em Pääbo e no julgamento dele; se ele dizia que o projeto era viável, eu só poderia acreditar. Aceitei a oferta. A decisão foi acertada. Graças ao avanço incrivelmente rápido da tecnologia de sequenciamento, três anos depois concluímos o trabalho – e com uma destruição mínima de ossos. Foi nesse período que, analisando o pedaço de dedo das Montanhas Altai, descobri um novo ancestral dos humanos modernos, os denisovanos. Isso basicamente alterou a história humana conhecida até então (você pode ler mais sobre a minha descoberta no box ao fim deste capítulo, “Trabalhando com nossos dedos”). Ossos como esses são os arquivos de mídia dos arqueogeneticistas e podem revelar muitas coisas. O homem primitivo a quem esse osso pertencia seria um de nossos ancestrais diretos ou sua linhagem entrou em extinção? Em que aspectos seu material genético diferia do nosso? Na arqueogenética, usamos os genomas dos homens primitivos como modelo e os comparamos com o nosso DNA contemporâneo. Como pesquisadores, nosso interesse está nos lugares em que o modelo não se encaixa, pois foi nessas posições que o DNA se modificou ou sofreu mutação. A palavra mutação tem uma conotação negativa para muitos, mas as mutações são o motor da evolução e a razão pela qual os seres humanos e os chimpanzés ficam separados por uma grade no zoológico. As mutações são o grande marco da história da humanidade.
No tempo que você levar para ler este capítulo, o DNA de milhões de suas células terá mudado quimicamente: na pele, nos intestinos, em todos os lugares. Essas alterações costumam ser corrigidas pelo corpo na mesma hora, mas nem sempre é assim que acontece. Quando o processo dá errado, chamamos de mutação. Se as mutações acontecem na formação das células reprodutivas, ou seja, em espermatozoides ou óvulos, elas podem ser passadas à próxima geração. O corpo tem mecanismos para prevenir isso; a maioria das células reprodutivas com mutações que podem causar doenças graves acaba morrendo. Mas as mutações menores podem escapar, e uma alteração genética, sob certas circunstâncias, pode ser passada adiante.
Alterações genéticas que geram um número maior de descendentes se espalham com mais rapidez nas populações porque são passadas adiante com mais frequência. Por exemplo, houve várias mutações que fizeram com que os seres humanos tivessem menos pelos que os nossos primos distantes, os grandes primatas. Nós desenvolvemos as glândulas sudoríparas, um sistema de refrigeração mais eficaz que permitiu que os hominíneos primitivos, menos peludos, corressem distâncias maiores, caçassem melhor e fugissem dos predadores com mais eficácia. Consequentemente, eles viviam por mais tempo e tinham mais chances de se reproduzir. Por outro lado, seres humanos primitivos com genes que favoreciam o crescimento de pelos eram menos capazes de competir por recursos e correr mais do que as presas, por isso foram extintos.
A maioria das mutações não tem uma finalidade própria. Ou elas não têm nenhum efeito sobre o organismo ou elas o prejudicam e são negativamente selecionadas ou eliminadas. Nas raras exceções em que as mutações se mostram úteis para a sobrevivência e a reprodução, elas são positivamente selecionadas e se propagam pelo pool genético (conjunto de alelos de uma determinada população), impulsionando a evolução de modo permanente. Dessa forma, podemos descrever a evolução como uma interação de acidentes aleatórios durante um teste de campo contínuo, sendo que o teste de campo é a vida da humanidade na Terra.