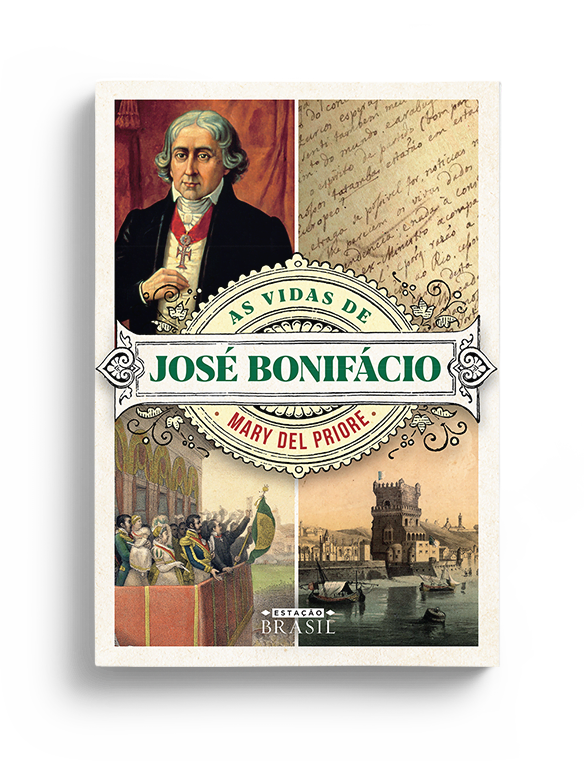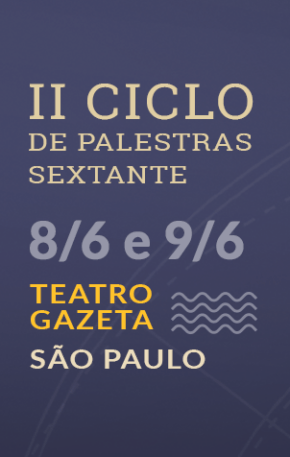INTRODUÇÃO
O homem viu muitas mulheres chorarem. Conhecia todas as lágrimas: as boas e as más. As santas e as pecadoras. Mas ignorava a dor de uma mãe que perdesse o filho. Um filho que, além de linda criança, representava uma coroa. A coroa de um futuro império. Ele ouviu alguém murmurar a frase que lhe pareceu bruta: “Viva o anjo!” Coisa de “tatambas”, pensou. Coisa de gente atrasada. O corpinho repousava na bandeja coberta de flores. Fechados, os olhos azuis não refletiam o mundo que a criança começava a descobrir. Grupos de círios acesos, colocados em profusão, faziam brilhar as flores e os vidrilhos entre os quais não se distinguia o menino morto, fantasiado de anjo e deitado num pequeno leito de tafetá branco e azul-céu, guarnecido com debruns de prata. Os pés foram calçados com sapatinhos de cetim e ele trazia um ramalhete, atado às mãozinhas. O rosto descoberto foi pintado das mais vivas cores e o penteado, acrescido de uma peruca bem empoada, coroada por uma enorme auréola feita de placa de ouro e prata. Um dia, ninguém sabe por quê, sobreveio aquela febre, e logo as convulsões, que só pararam quando ele se inteiriçou num último arranco e amoleceu, morto! A impressão dos pequenos membros frios e enrijecidos lhe ficou nos dedos. O pai do menino, chorando, fez um pedido relativo ao túmulo do pequeno. Ainda tinha frescas as palavras: “Meu José. O epitáfio que deveria ser aberto sobre o caixão do meu querido filho, emende-o se não estiver bom, porque lhe dá esta autoridade este seu amo e amigo.”
Sentiu-se envelhecido. O pai do menino era moço. Era D. Pedro. Seu primogênito chamava-se João Carlos. A mãe lacrimosa, a arquiduquesa Leopoldina. Um dia ele também foi jovem e partiu para um continente velho, para o “Antigo Portugal”. Agora velho, voltara para um continente moço, o “Novo Portugal”. Trinta e seis anos tinham se passado. Era um homem entre dois mundos e entre dois tempos. Entre tempos que se entrelaçaram. Dos fatos que o cercavam não podia descrever toda a realidade, mas escreveu à sombra de muitos acontecidos.
PARTE 1
No princípio era a terra: infância e juventude
Ele nasceu no dia 13 de junho de 1763, na vila de Santos, sem fadas à volta do berço. Abriu os olhos na Rua Direita, a mais importante do povoado, numa das setenta casas ali plantadas. Passou a primeira infância à sombra do Forte de Nossa Senhora de Monserrate, à beira do porto e guarnecido com onze canhões enferrujados. Com a família e a caminho da missa, cruzou o Largo da Matriz para, reverente, entrar no Colégio dos Jesuítas, o de São Miguel, de cuja torre o som do sino anunciava nascimentos, mortes e incêndios. Por trás de pesados muros erguidos no século XVI, a sacristia, a varanda térrea, a casa dos leigos. Quando soprava o vento, o fedor da Rua dos Curtumes, ali ao lado, lembrava que os couros eram tratados com urina de boi. Dois ribeiros oleosos e escuros, o do Carmo e o do Desterro, transportando os detritos da planície litorânea, empurravam ao mar jangadas e embarcações. Mangues e canais fervilhavam de bichos. Ao fundo, a muralha verde da Serra do Mar; e, à frente, as praias onde quebravam as ondas e onde pescadores e seus pescados combatiam todos os dias. Do alto do Outeiro de Santa Catarina, do qual se avistava a vila inteira, descia o despenhadeiro pontuado por pequenas árvores. Do outro lado da cidade, as duas alfândegas, a Velha e a Nova: nomes pomposos para simples barracões. De longe, via-se o Mosteiro de São Bento, com seus três arcos e a torre oriental. A vila respirava vida religiosa. Como os tios, seria padre ou os tempos lhe reservavam outro ofício?
Descendente de antiga família do Minho e de Trás-os-Montes, “dos senhores d’Entre-Homem e Cavado”, parente dos condes de Amares e marqueses de Montebelo, “tidos entre os melhores fidalgos de Portugal”, seu avô, o coronel José Ribeiro de Andrada, ocupou rendosos ofícios, realizando o sonho de todo reinol na colônia: administrou o contrato da dízima da Alfândega do Rio de Janeiro e de Santos até 1721. Foi escrivão da Matrícula, Almoxarifado, Alfândega e Fazenda Real, cargo atribuído por biógrafos, mas inexistente na lista da administração colonial. Foi capitão de infantaria da Ordenança de Santos, posteriormente promovido a coronel. Em tudo se comportou “com boa satisfação, inteligência e limpeza de mãos”, recebendo não só altos emolumentos, como “todas as honras, privilégios, liberdades, isenções e franquezas”. Enricou, mas depois morreu pobre, numa casinha pegada ao sobrado do filho Bonifácio José.
Seus filhos também correram atrás de cargos. O mais velho, José Bonifácio de Andrada, depois de ter estudado ciências físicas e médicas em Coimbra, foi nomeado médico oficial e instalou clínica própria até ser nomeado pela Municipalidade, em 1748, médico do Presídio e Guarnição da Praça. A seguir, Tobias, que também estudou em Coimbra, voltou como tesoureiro-mor da Sé Episcopal de São Paulo. Por sua vez, João Floriano, “gramático e filósofo”, já não seguiu para a metrópole, contentando-se em tomar as ordens. Bonifácio José foi empurrado pelas circunstâncias para o que alguns biógrafos chamam de “vida prática”. Casou-se aos 32 anos, em 1758, com D. Maria Bárbara da Silva, filha de portugueses, com quem teve dez filhos, quatro mulheres – uma das quais morreu logo após ser batizada – e seis homens, entre os quais José Antônio, que, quando de sua crisma, trocaria o nome para José Bonifácio. Bonifácio José ganhou como cunhado um médico, o escrivão da Alfândega, Manuel Fernandes Souto. Todos “limpos de sangue”, ou seja, ninguém “maculado” por união com índios, negros ou judeus.
Contam que Bonifácio José teve vários empregos públicos, como o de almoxarife da Fazenda Real de Santos, a cujos proventos somou rendas vindas de imóveis comprados na cidade e de terras onde seus escravos lavravam café, cana e arroz. Sua fortuna ombrearia com a do sargento-mor de Ordenanças João Ferreira de Oliveira, negociante atacadista, ou a do negociante Antônio Gonçalves Ribas, “familiar”, ou seja, pessoa que prestava serviços aos inquisidores do temido Santo Ofício na colônia. Na lista censitária de 1765, ele detém a segunda fortuna da vila. Na de 1775, aparece com um grande plantel, 27 escravos, e dono de uma única fazenda. Aos cargos públicos somar-se-iam os negócios privados. Personagem inatacável? Não. Em 1777, o governador e capitão-general Martim Lopes o promoveu ao posto de coronel do Estado-Maior dos Dragões Auxiliares “por ser paulista das principais famílias da vila de Santos” e “ter posses para sustentar o posto com luzimento”. Mas logo retrocedeu. No ano seguinte, escreveu à rainha de Portugal, D. Maria I, pedindo a não confirmação do ato por considerar Bonifácio José “o único oficial que, esquecido de seus deveres, se não aprontou […] pelo que me parece não é digno de que Vossa Majestade lhe confirme a patente que lhe conferi, além de outros motivos que a modéstia cala”.
Fumos de fidalguia, como queriam alguns biógrafos dos Andradas? Nenhum título de duque, marquês ou conde, ou “prerrogativa de grandeza”, que consistia em não tirar o chapéu e poder sentar-se na frente do rei. Os membros da família faziam parte do que o verbete do Vocabulário português e latino do padre Bluteau chamava de “Estado do Meio”: feito de gente que andava a cavalo e servia-se de criados. Era preciso, porém, que mantivessem um estilo de vida nobre. Tudo indica que Bonifácio José, “esquecido de seus deveres” e “por motivos que a modéstia cala”, escorregou para o estado inferior. Não se encontra o nome dos Andradas entre os grandes plantadores de cana ou mesmo entre os grandes rentistas da vila nas listas censitárias subsequentes. Bonifácio José ou seu pai jamais portaram o Hábito de Cristo, condecoração dada pelo rei em troca de bons serviços, nem foram familiares do Santo Ofício, pois o cargo exigia dinheiro. A seleção dos familiares era feita entre pessoas que levassem uma vida abastada, pois lhes eram exigidos deslocamentos e viagens por conta própria. Era comum que membros da elite mercantil se habilitassem para tal função. Mas não os Andradas, que também não recebiam tratamento diferenciado, como ser chamado de “Senhor” nos despachos e requerimentos. O que lhes sobrava? A cor da pele. Pois, na colônia, a distinção entre nobres e plebeus estava borrada pela escravidão. Já dizia Domingos do Loreto Couto, cronista da época: “Não é fácil determinar nestas províncias quais sejam os homens da plebe, porque todo aquele que é branco na cor entende estar fora da esfera vulgar.” Ser alvo era ser nobre.
Além de “alvos”, tinham negócios como tantos outros comerciantes, negócios que ligavam o litoral ao planalto graças à estrada aberta até a vizinha São Vicente e ao caminho que levava de Cubatão a São Paulo, cortando a Serra de Paranapiacaba. Mais tarde, a construção da “calçada de Lorena” – estrada de pedras que recebeu o nome de seu idealizador, o fidalgo Bernardo José Maria de Lorena e Silveira, governador da capitania de São Paulo – intensificaria as transações. Pouco a pouco, a relação com São Paulo resultou num deslocamento da cidade para os terrenos mais próximos a Cubatão, facilitando a chegada e a partida de mercadorias. Até o ano de 1789, o porto de Santos acolhia bergantins, sumacas, corvetas e lanchas procedentes de Ubatuba, Rio de Janeiro, Bahia, São Sebastião, Iguape e Rio Grande do Sul. As embarcações cruzavam escaleres com remeiros carijós, encarregados de levar informação entre a fortaleza de Bertioga e o governo na Praça de Santos. No fim do século XVII e ao longo do XVIII, a Praça já tinha sua comunidade mercantil.