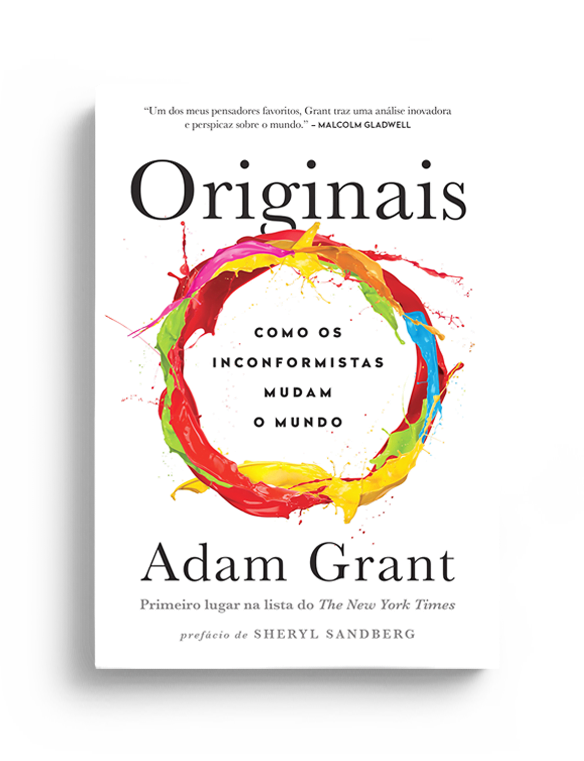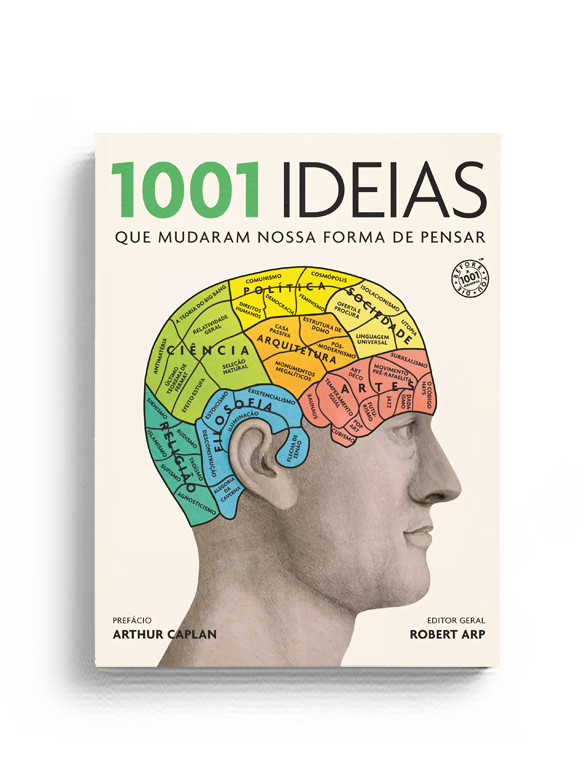Prefácio
O mito
Em 1815, o Allgemeine Musikalische Zeitung (Jornal Geral de Música), da Alemanha, publicou uma carta em que Mozart descrevia seu processo criativo:
Quando sou completamente eu mesmo, quando me encontro sozinho e de bom humor – por exemplo, se estou viajando de carruagem, caminhando depois de uma boa refeição ou sem sono à noite , minhas ideias fluem melhor e com mais abundância. Tudo isso incendeia minha alma e, se eu não for incomodado, o tema em que estou pensando se expande, torna-se metodizado e definido, e o todo, ainda que longo, surge quase acabado e completo na minha mente, de modo que posso analisá-lo com um único olhar, como uma bela pintura ou uma linda estátua. Não ouço em minha imaginação as partes sucessivamente, ouço-as todas ao mesmo tempo. Quando passo a escrever tais ideias, faço-o com bastante rapidez, uma vez que tudo, como eu disse antes, já está acabado e no papel elas raramente diferem do que eram na imaginação.
Em outras palavras, as maiores sinfonias, os concertos e as óperas de Mozart lhe vinham inteiros à mente quando ele estava sozinho e de bom humor. Ele não precisava de ferramentas para compor. Quando terminava de imaginar suas obras-primas, só precisava anotá-las.
Essa carta foi usada muitas vezes para explicar a criação. Partes dela aparecem em The Mathematician’s Mind (A mente do matemático), escrito por Jacques Hadamard em 1945; em Creativity: Selected Readings (Criatividade: leituras selecionadas), coordenado por Philip Vernon em 1976; no premiado livro de Roger Penrose publicado em 1989 A mente nova do rei; e é citada no best-seller Imagine, de Jonah Lehrer, de 2012. Influenciou os poetas Pushkin e Goethe e o dramaturgo Peter Shaffer. Direta e indiretamente, ajudou a moldar crenças comuns sobre a criação.
Mas há um problema. Mozart não escreveu essa carta. É uma falsificação. Isso foi mostrado pela primeira vez em 1856 pelo biógrafo de Mozart, Otto Jahn, e desde então vem sendo confirmado por estudiosos.
As verdadeiras cartas de Mozart – para o pai, a irmã e outras pessoas – revelam seu verdadeiro processo de criação. Ele era excepcionalmente talentoso, mas não compunha por magia. Esboçava suas composições, revisava-as e às vezes ficava empacado. Não conseguia trabalhar sem um piano ou um cravo. Punha o trabalho de lado e voltava a ele mais tarde. Avaliava a teoria e a qualidade enquanto escrevia; pensava muito sobre ritmo, melodia e harmonia. Ainda que o talento e toda uma vida de prática o tornassem rápido e fluente, seu trabalho consistia nisso: trabalho. As obras-primas não lhe vinham em jorros completos e ininterruptos de imaginação nem prescindiam da ajuda de um instrumento; ele não as escrevia inteiras e sem qualquer alteração. A carta não é somente falsa, é mentirosa.
Ela sobrevive porque apela para preconceitos românticos sobre a invenção. Há um mito sobre como algo novo surge. Os gênios têm momentos dramáticos de percepção, quando obras e teorias grandiosas nascem inteiras. Poemas são escritos em sonhos. Sinfonias são compostas completas. A ciência é realizada com gritos de “Eureca!”. Empresas são construídas como num passe de mágica. Algo não existe e, então, passa a existir. Não vemos a estrada que vai do nada ao novo, e talvez não queiramos ver. A arte deve ser magia nebulosa, e não suor e esforço. Embota o brilho pensar que toda equação elegante, toda pintura linda e toda máquina brilhante nasce do esforço e do erro, origina-se de impulsos equivocados e fracassos. É sedutor concluir que a grande inovação chega até nós por milagre através do gênio. Daí o mito.
O mito moldou o modo como entendemos a criação desde que se começou a pensar sobre ela. Em civilizações antigas, as pessoas acreditavam que as coisas podiam ser descobertas, mas não criadas. Para elas, tudo já fora criado; elas compartilhavam a perspectiva da piada de Carl Sagan sobre esse tema: “Se você quiser fazer uma torta de maçã a partir do zero, primeiro precisa inventar o universo.” Na Idade Média, a criação era possível, mas reservada para a divindade e para aqueles que recebessem inspiração divina. Na Renascença, os seres humanos foram finalmente considerados capazes de criar, mas precisavam ser grandes homens – como Da Vinci, Michelangelo, Botticelli. À medida que o século XIX se transformava no XX, criar tornou-se tema de investigação filosófica e em seguida psicológica. A questão a ser investigada era: “Como os grandes homens fazem?” E a resposta tinha o resíduo da intervenção divina medieval. Boa parte da essência do mito foi acrescentada nessa época, com as mesmas referências sobre epifanias e gênios – inclusive falsificações como a carta de Mozart – sendo repetidamente veiculadas. Em 1926 Alfred North Whitehead transformou um verbo “criar” num substantivo e deu o nome ao mito: criatividade.
O mito da criatividade implica que poucos indivíduos podem ser criativos, que qualquer criador bem-sucedido experimentará grandes clarões de ideias e que criar tem mais a ver com magia do que com trabalho. Poucos e raros possuem o que é necessário, e para eles a coisa é fácil. Os esforços criativos de qualquer outra pessoa estão condenados.
Este livro mostra por que o mito está errado.
Acreditei no mito até 1999. O início da minha carreira – no jornal estudantil da London University, numa nova empresa de macarrão em Bloomsbury chamada Wagamama e depois numa fábrica de sabão e papel chamada Procter & Gamble – sugeria que eu não era bom em criar. Eu lutava para executar minhas ideias. Quando tentava, as pessoas ficavam irritadas. Quando tinha sucesso, elas se esqueciam de que a ideia era minha. Lia cada livro que encontrava sobre criação, e cada um deles dizia a mesma coisa: as ideias surgem de um jeito mágico, as pessoas as recebem com entusiasmo e os criadores são vencedores. Minhas ideias vinham de forma gradativa, as pessoas as recebiam sem animação e eu me sentia um fracassado. Minhas avaliações de desempenho eram ruins. Corria sempre o perigo de ser demitido. Não entendia por que minhas experiências criativas não eram parecidas com as dos livros.
Em 1997 ocorreu-me, pela primeira vez, que os livros talvez estivessem errados. Eu estava tentando resolver um problema aparentemente tedioso que acabou sendo interessante. Eu enfrentava dificuldade para manter determinada cor de batom da Procter & Gamble nas prateleiras das lojas. Metade dos estabelecimentos ficava sem o produto no estoque em algum momento. Depois de pesquisar muito, descobri que o motivo do problema era falta de informação. O único modo de ver o que havia numa prateleira era ir olhar. Essa era uma limitação fundamental da tecnologia de informação do século XX. Quase todos os dados inseridos nos computadores na época vinham de pessoas que digitavam em teclados ou escaneavam códigos de barras. Os empregados das lojas não tinham tempo para olhar as prateleiras ao longo do dia e anotar aquilo que viam, de modo que o sistema de todas as lojas era cego. Os donos não ficavam sabendo que o estoque do batom estava esgotado; as compradoras, sim. As compradoras escolhiam outro – e nesse caso eu perdia a venda – ou não compravam batom algum – e aí a loja também perdia a venda. Mas o batom que faltava era o menor dos problemas; era somente um sintoma, uma constatação de um dos maiores problemas do mundo: os computadores eram apenas cérebros, desprovidos de nossos sentidos.
E poucas pessoas percebiam isso. Em 1997, os computadores já existiam há 50 anos. A maioria dos indivíduos havia crescido com eles e se acostumado com o modo como funcionavam. Eles processavam os dados que as pessoas colocavam neles. Os computadores eram vistos como máquinas de pensar, e não de sentir.
Mas as máquinas inteligentes não foram concebidas assim originalmente. Em 1950, Alan Turing, inventor da computação, escreveu: “As máquinas acabarão competindo com os homens em todos os campos puramente intelectuais. Mas quais são os melhores para começar? Muitos acham que uma atividade abstrata, como jogar xadrez, seria a mais indicada. Também deve-se acrescentar que é bom dar às máquinas os melhores órgãos sensoriais que o dinheiro possa comprar. As duas abordagens devem ser experimentadas.”
Mas poucos tentaram a segunda abordagem. No século XX, os computadores ficaram mais rápidos e menores e foram conectados uns aos outros, porém não ganharam “os melhores órgãos sensoriais que o dinheiro possa comprar”. Assim, em maio de 1997, um computador chamado Deep Blue foi capaz de vencer pela primeira vez o humano campeão de xadrez Garry Kasparov. No entanto, não havia como um computador saber se um batom estava numa prateleira. E esse era o problema que eu queria solucionar.
Coloquei um microchip (de identificação através de radiofrequência) num batom e uma antena numa prateleira; esta, sob o nome genérico de “Sistema de Armazenamento”, se tornou minha primeira invenção patenteada. O microchip economizava dinheiro e memória conectando-se à internet, disseminada na década de 1990, e armazenando os dados. Para ajudar os executivos da Procter & Gamble a entender esse sistema de conectar objetos como batom – e fraldas, detergente, batata frita ou qualquer outro – à internet, dei a ele um nome curto e pouco gramatical: “Internet das Coisas” (Internet of Things – IoF, na sigla em inglês). Para torná-lo real, comecei a trabalhar com Sanjay Sarma, David Brock e Sunny Siu no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em 1999, fundamos um centro de pesquisas e emigrei da Inglaterra para os Estados Unidos a fim de me tornar seu diretor-executivo.
Em 2003 nossa pesquisa tinha 103 patrocinadores corporativos, além de laboratórios adicionais em universidades na Austrália, China, Inglaterra, Japão e Suíça, e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts assinou uma licença lucrativa para tornar nossa tecnologia comercialmente disponível.
Em 2013 minha expressão “Internet of Things” foi incluída no dicionário Oxford, que a definiu como “uma proposta de desenvolvimento da internet em que os objetos cotidianos têm conectividade com a rede, permitindo que enviem e recebam dados”.
Nada nessa experiência lembrava as histórias sobre “criatividade” que eu lera nos livros. Não havia acontecido magia, tampouco clarões de inspiração – apenas dezenas de milhares de horas de trabalho. Construir a Internet das Coisas foi um processo lento e difícil, assolado por política, infestado de erros, desconectado de estratégias e planos grandiosos. Aprendi a ter sucesso aprendendo a fracassar. Aprendi a esperar o conflito. Aprendi a não ficar surpreso com a adversidade, e sim a me preparar para ela.
Usei o que descobri para ajudar a construir empresas de tecnologia. Uma delas foi considerada uma das dez “Empresas Mais Inovadoras na Internet das Coisas” em 2014 e duas foram vendidas para companhias maiores – uma delas menos de um ano depois de criada.
Também dei palestras sobre minhas experiências com criação. E a mais popular delas atraía tantas pessoas com uma quantidade tão grande de perguntas que, a cada vez que a ministrava, precisava me planejar para permanecer no local por pelo menos uma hora após o encerramento, para poder responder às questões da plateia. Essa palestra é a base para este livro. Cada capítulo conta a história verdadeira de uma pessoa criativa; cada história vem de um lugar, um tempo e um campo de criação diferente e enfatiza uma ideia importante sobre criatividade. Existem narrativas dentro das narrativas e abordagens de ciência, história e filosofia.
Vistas em conjunto, essas histórias revelam um padrão de como os seres humanos fazem coisas novas, um padrão que é ao mesmo tempo encorajador e desafiador. A parte encorajadora é que todo mundo pode criar, e podemos demonstrar isso de modo bastante conclusivo. A parte desafiadora é que não existe momento de criação mágico. Os criadores passam quase todo o tempo perseverando, apesar da dúvida, do fracasso, do ridículo e da rejeição, até conseguirem realizar algo novo e útil. Não existem truques, atalhos ou esquemas para se tornar criativo de uma hora para outra. O processo é comum, ainda que o resultado não seja.
Criar não é magia; é trabalho.