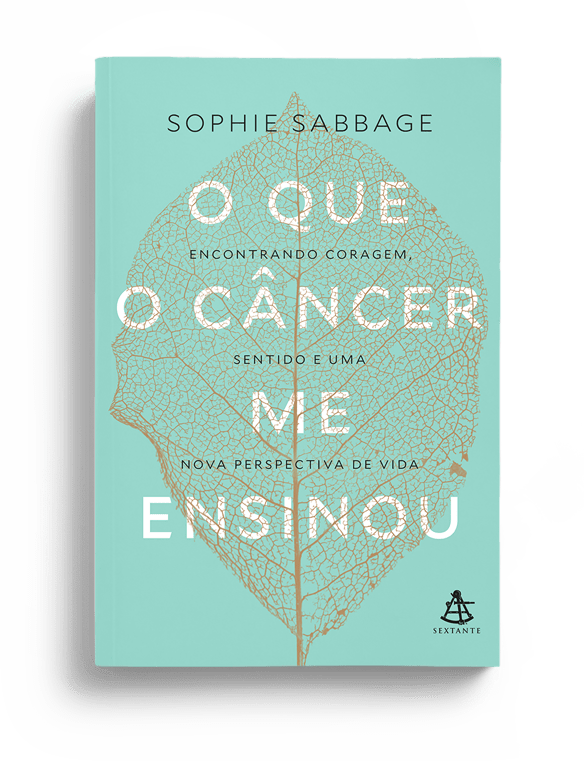Prólogo
“Webster era obcecado com a morte,
Via o crânio sob a pele;
E via criaturas descarnadas sob a terra
Recostadas com um sorriso sem lábios.”
T. S. Eliot, “Sussurros da Imortalidade”
Observando as imagens da tomografia computadorizada, o diagnóstico era óbvio: os pulmões tomados por vários tumores, a coluna deformada, um lobo do fígado destruído. Câncer, largamente disseminado. Eu era residente em neurocirurgia, entrando no meu ano final de prática. Durante os últimos seis anos eu havia estudado muitos exames daquele tipo, procurando algum procedimento que pudesse trazer benefícios ao paciente. Mas aquele exame era diferente: era meu.
Eu não estava com o avental de radiologia nem vestindo meu jaleco branco. Estava com roupão de paciente, tomando soro na veia, usando um computador que a enfermeira havia deixado comigo no quarto do hospital. Minha esposa, Lucy, que também é médica, estava ao meu lado. Repassei mais uma vez toda a sequência que aprendera: rolei a imagem de cima para baixo, depois da esquerda para a direita, em seguida da frente para trás, para ver se encontrava algo que pudesse alterar o diagnóstico.
Estávamos deitados juntos no leito hospitalar.
Em voz baixa, Lucy disse, como se estivesse lendo um roteiro:
– Você acha que existe alguma possibilidade de ser outra coisa?
– Não – respondi.
Ficamos imóveis num abraço apertado, como jovens amantes. No último ano, nós dois começamos a suspeitar, mas nos recusamos a acreditar – ou até mesmo a discutir a possibilidade – que um câncer estava crescendo dentro de mim.
Mais ou menos seis meses antes, comecei a perder peso e a sentir uma violenta dor nas costas. Cada vez que me vestia de manhã, precisava apertar mais o cinto. Um dia resolvi procurar a minha clínica geral, uma antiga colega de classe de Stanford. O irmão dela tinha morrido de repente, depois de ignorar os sinais de uma infecção viral, por isso ela havia adotado um cuidado quase maternal em relação à minha saúde. Mas, quando cheguei ao consultório dela, encontrei outra médica em seu lugar – minha colega estava de licença-maternidade.
Vestido com um fino roupão azul na mesa fria de exames, descrevi meus sintomas.
– Claro que se fosse uma questão de prova, “homem de 35 anos com inexplicável perda de peso e recente dor nas costas”, a resposta óbvia seria: (C) câncer – falei. – Mas talvez eu esteja apenas trabalhando demais. Não sei. Gostaria de fazer uma ressonância magnética para ter certeza.
– Acho que devemos primeiro fazer um raio X – disse ela. Uma ressonância magnética custava caro. Por outro lado, o raio X não costumava ser muito útil para descobrir um câncer. Mesmo assim, para muitos médicos um pedido de ressonância nesses primeiros estágios era um exagero. Ela continuou: – O exame de raio X não é muito sensível, mas faz sentido começar por aí.
– E se fizéssemos um raio X de flexo-extensão? Talvez o diagnóstico mais realista seja uma espondilolistese ístmica.
Pelo reflexo do espelho da parede, pude vê-la consultando o Google.
– É uma fratura da vértebra, que afeta cerca de 5% das pessoas e é causa frequente de dor nas costas em jovens – expliquei.
– Tudo bem, eu vou pedir esse exame, então.
– Obrigado – falei.
Como eu podia ser tão autoritário usando um jaleco de cirurgião e tão humilde numa camisola de paciente? A verdade era que eu sabia mais do que ela sobre dores nas costas: metade da minha formação em neurocirurgia envolvia disfunções na coluna. Era mais provável que se tratasse mesmo de uma espondilolistese. Essa doença afetava boa parte dos adultos jovens. A probabilidade de ter um câncer na coluna aos 30 e poucos anos era quase uma em 10 mil. Talvez eu estivesse assustado à toa.
O raio X parecia normal. Atribuímos os sintomas ao excesso de trabalho e ao envelhecimento do corpo, marcamos uma nova consulta para acompanhamento e saí para cuidar do meu último paciente. A perda de peso diminuiu, as dores nas costas ficaram mais toleráveis. Uma dose de ibuprofeno me fazia passar o dia bem, e já não havia mais tantos turnos massacrantes de catorze horas de trabalho. Minha transição de estudante de medicina para professor de neurocirurgia estava quase concluída: após dez anos incansáveis de estudos, eu estava determinado a perseverar pelos próximos quinze meses até o final da residência. Eu já havia ganhado o respeito dos meus superiores, conquistado prestigiosos prêmios e recebido ofertas de emprego em diversas universidades importantes. O meu diretor em Stanford dissera recentemente que eu seria “o candidato preferencial em qualquer emprego que pleiteasse”.
Ou seja, aos 36 anos, eu tinha chegado ao topo da montanha; podia ver a Terra Prometida, de Gileade até Jericó e ao Mar
Mediterrâneo. Conseguia imaginar um belo barco naquele mar em que eu e Lucy navegaríamos nos fins de semana com nossa futura filha hipotética. Senti a tensão nas minhas costas se abrandar enquanto meu trabalho diminuía e a vida se tornava mais administrável. Finalmente conseguia me ver me tornando o marido que havia prometido ser.
Então, algumas semanas depois, comecei a sentir fortes dores no peito. Será que tinha batido em alguma coisa sem perceber? Teria fraturado uma costela? As vezes eu acordava durante a noite com os lençóis encharcados, pingando de suor. Comecei a perder peso de novo, dessa vez de forma mais acelerada, pulando de 85 para 70 quilos. Desenvolvi uma tosse persistente. Restavam poucas dúvidas. Um sábado à tarde, eu e Lucy estávamos tomando sol no Dolores Park, em São Francisco, quando por acaso ela viu a pesquisa que eu estava fazendo no celular: “Prevalência de câncer em pessoas entre 30 e 40 anos.”
– Não sabia que você estava realmente preocupado com isso – comentou ela.
Não respondi. Não sabia o que dizer.
– Você quer conversar a respeito? – perguntou.
Lucy estava apreensiva porque também temia aquela possibilidade. Estava apreensiva porque eu não falava sobre o assunto. Estava apreensiva porque eu tinha prometido a ela uma vida e estava oferecendo outra.
– Por que você não está confiando em mim? – perguntou.
Desliguei o celular.
– Vamos tomar um sorvete.
Havíamos programado uma viagem de férias para a semana seguinte, para visitar um velho amigo em Nova York. Talvez uma mudança de ares e alguns drinques ajudassem a nos aproximar um pouco e a aliviar a tensão que se instalara em nosso casamento.
Mas Lucy tinha outros planos.
– Eu não vou com você – anunciou ela alguns dias antes da viagem.
Ela queria um tempo para pensar sobre a nossa situação. Falou isso num tom de voz calmo, o que só aumentou a vertigem que senti.
– O quê?
– Eu te amo muito, e é por isso que tudo é tão confuso – explicou. – Parece que estamos desejando coisas diferentes da nossa relação. Sinto que não estamos totalmente conectados. Não quero saber das suas preocupações por acaso. Quando digo que estamos distantes, você não parece ver isso como um problema. Mas eu preciso fazer algo a respeito.
– Tudo vai melhorar – falei. – É só essa residência.
Será que as coisas estavam tão ruins assim? O curso de neurocirurgia, um dos mais rigorosos de todas as especialidades médicas, com certeza tinha causado problemas ao nosso casamento. Muitas foram as noites em que eu voltava tarde do trabalho, quando Lucy já estava na cama, e desmaiava no chão da sala, e tantas as manhãs em que eu saía para trabalhar antes de ela acordar. Mas nossas carreiras agora estavam no auge – a maioria das universidades desejava a ambos: eu na neurocirurgia, Lucy em medicina interna. Tínhamos sobrevivido à parte mais difícil da nossa jornada. Já não havíamos discutido isso dezenas de vezes? Será que ela não percebia que aquele era o pior momento possível para jogar tudo para o alto? Não via que só faltava um ano de residência, que eu a amava, que estávamos tão perto da vida que sempre desejamos ter juntos?
– Se fosse só a residência, eu aguentaria – explicou ela. – Nós já chegamos até aqui. Mas o problema é: e se não for só a residência? Você acha mesmo que as coisas vão melhorar quando você for neurocirurgião e professor?
Sugeri cancelar a viagem, ser mais aberto, consultar o terapeuta de casais que Lucy sugerira alguns meses antes, mas ela insistiu que precisava de um tempo – sozinha. Àquela altura, a névoa da confusão se dissipara. Muito bem, então. Se ela tinha resolvido dar um tempo, eu assumiria que a relação tinha terminado. Se eu estivesse com câncer, afinal, não diria a ela – iria deixá-la livre para viver a vida que escolhesse.
Antes de partir para Nova York, marquei algumas consultas para eliminar a suspeita de alguns tipos de câncer comuns na juventude. (Testículos? Não. Melanoma? Não. Leucemia? Não.) O trabalho na neurocirurgia estava pesado, como sempre. A noite de quinta-feira estendeu-se até a manhã de sexta, com 36 horas seguidas na sala de cirurgia numa série de casos difíceis e complicados: aneurismas gigantes, pontes arteriais intracerebrais, más-formações arteriovenosas. Eu agradecia aliviado quando o médico assistente entrava, permitindo que eu recostasse a coluna na parede por alguns minutos. Só consegui tirar uma radiografia do tórax quando estava saindo do hospital, a caminho de casa, antes de ir para o aeroporto. Pensei que, se eu tivesse câncer, aquela poderia ser a última oportunidade de ver meus amigos; se não tivesse, não haveria razão para cancelar a viagem.
Fui correndo pegar minhas malas. Lucy me levou de carro até o aeroporto e disse que tinha marcado um horário para nós com um terapeuta de casais.
No portão de embarque, mandei para ela uma mensagem de texto: “Gostaria que você estivesse comigo.”
Poucos minutos depois recebi a resposta: “Te amo. Estarei aqui quando você voltar.”
Minhas costas ficaram completamente rígidas durante o voo, e eu sentia terríveis ondas de dor quando cheguei à Grand Station para tomar o trem para a casa do meu amigo no norte do estado. Ao longo dos últimos meses, eu vinha sentindo espasmos nas costas de intensidades variáveis, de pontadas leves e suportáveis até dores que me faziam parar de falar para cerrar os dentes
ou me encolher no chão. A que eu sentia naquele momento
estava na extremidade mais grave do espectro. Deitei num banco duro na área de espera do trem, sentindo os músculos das costas se contorcerem, respirando fundo para tentar controlar a dor – o ibuprofeno não estava dando conta – e nomeando cada músculo para tentar não chorar: paraespinhal, romboide, grande dorsal, piriforme…
Um segurança se aproximou.
– O senhor não pode deitar aqui.
– Desculpe – respondi, as palavras embargadas. – Muita… dor… nas costas…
– Mesmo assim o senhor não pode deitar aqui.
Desculpe, mas estou morrendo de câncer.
As palavras pairaram na minha língua… mas e se eu não estivesse? Talvez fosse assim que as pessoas que sentiam dores nas costas viviam. Eu entendia bastante de dor nas costas – a anatomia, a fisiologia, as diferentes palavras usadas pelos pacientes para descrever os diferentes tipos de dor –, mas não sabia o que eles sentiam. Podia ser só isso. Talvez fosse apenas dor nas costas. Ou talvez eu simplesmente não quisesse dizer a palavra câncer em voz alta.
Consegui me levantar e me arrastar até a plataforma.
Já era tarde da noite quando cheguei à casa do meu amigo em Cold Spring, 80 quilômetros ao norte de Manhattan, onde fui recebido por alguns dos meus melhores amigos do passado. As saudações e as palavras de boas-vindas se misturavam numa cacofonia típica de crianças felizes. Seguiram-se os abraços, e senti que minhas mãos estavam geladas.
– Lucy não veio?
– Problemas no trabalho – falei. – De última hora.
– Ah, que pena!
– Vocês se importam se eu guardar minhas malas e descansar um pouco?
Eu tinha a esperança de que alguns dias longe da sala de cirurgia, dormindo direito, descansando e relaxando – em resumo, uma vida normal –, remeteriam meus sintomas de volta ao quadro básico de cansaço e dor nas costas. Mas depois de um ou dois dias ficou claro que não haveria retrocesso.
Acordei depois que todos já tinham tomado o café da manhã. Na hora do almoço, vi as grandes travessas de cassoulet e patas de caranguejo e não consegui comer. Na hora do jantar eu já estava exausto, pronto para ir para a cama de novo. Às vezes eu lia para as crianças, mas na maior parte do tempo elas ficavam brincando ao meu redor, pulando e gritando. (Crianças, acho que tio Paul precisa descansar. Por que vocês não vão brincar lá fora?) Lembrei de um dia, quinze anos antes, num acampamento de férias onde trabalhei como supervisor. Eu estava sentado às margens de um lago com um bando de crianças animadas me usando como obstáculo num jogo de capturar a bandeira, enquanto lia um livro chamado Morte e filosofia. Era engraçada a incongruência daquele momento: um rapaz de 20 anos em meio ao esplendor de árvores, lagos, montanhas, o canto dos pássaros e os gritos alegres de crianças de
4 anos, com o nariz enterrado num livrinho preto sobre a morte. Só que, agora, o paralelismo da cena era cruel: no lugar do lago Tahoe, era o rio Hudson; as crianças não eram estranhas, mas filhos de amigos meus; no lugar de um livro sobre a morte me separando da vida ao redor, era meu próprio corpo que estava morrendo.
No terceiro dia fui falar com Mike, meu anfitrião, para dizer que iria encurtar a estadia e voltar para casa.
– Você não está com a aparência muito boa – observou ele. – Está tudo bem?
– Por que não pegamos um uísque e nos sentamos um pouco? – sugeri.
Quando estávamos em frente à lareira, eu disse:
– Mike, acho que estou com câncer. E não é do tipo benigno.
Foi a primeira vez que falei aquilo em voz alta.
– Ok – replicou ele. – Isso não é nenhuma piada de mau gosto, é?
– Não.
Ele fez uma pausa.
– Não sei o que perguntar.
– Bem, em primeiro lugar, acho que eu devo acrescentar que não tenho certeza de que estou com câncer. Só estou mais ou menos certo… tem um monte de sintomas apontando nessa direção. Quero voltar para casa amanhã para esclarecer tudo isso. Espero estar enganado.
Mike se ofereceu para ficar com minhas malas e enviá-las depois, para que eu não precisasse carregá-las. Ele me levou até o aeroporto no dia seguinte e seis horas depois eu estava aterrissando em São Francisco. Meu telefone tocou assim que desci do avião. Era minha médica ligando para me passar o resultado da radiografia do tórax: meus pulmões pareciam borrados, como se o diafragma da câmera tivesse ficado aberto tempo demais. Ela disse que não sabia ao certo o que aquilo significava.
Era muito provável que ela soubesse.
Eu sabia.
Lucy foi me buscar no aeroporto, mas esperei até chegarmos em casa para contar a ela. Sentamos no sofá e, quando falei, ela já imaginava. Encostou a cabeça no meu ombro e a distância entre nós desapareceu.
– Eu preciso de você – murmurei.
– Eu nunca vou te deixar – respondeu ela.
Ligamos para um amigo próximo, um dos neurocirurgiões do hospital, e pedimos que providenciasse minha internação.
Recebi a pulseira de plástico que todos os pacientes usam, vesti a familiar camisolinha azul-clara, passei pelas enfermeiras, que conhecia pelo nome, e fui encaminhado para um quarto – o mesmo onde tinha examinado centenas de pessoas ao longo dos anos. O mesmo em que tinha conversado com tantos pacientes para explicar diagnósticos terminais e cirurgias complexas; o mesmo quarto em que havia congratulado seres humanos pela cura de alguma doença e testemunhado sua felicidade por poder voltar à vida; o mesmo quarto em que eu tinha assinado atestados de óbito. Tinha sentado naquelas cadeiras, lavado as mãos na pia, rabiscado instruções nos prontuários, virado a folha do calendário. Em momentos de grande cansaço, tinha até desejado me deitar naquela cama e dormir. Agora eu estava lá deitado, totalmente acordado.
Uma jovem enfermeira, que eu ainda não conhecia, enfiou a cabeça pela porta.
– O médico vai chegar daqui a pouco.
E, com isso, o futuro que eu havia imaginado, que estava prestes a se realizar, o ápice de décadas de luta, evaporou.

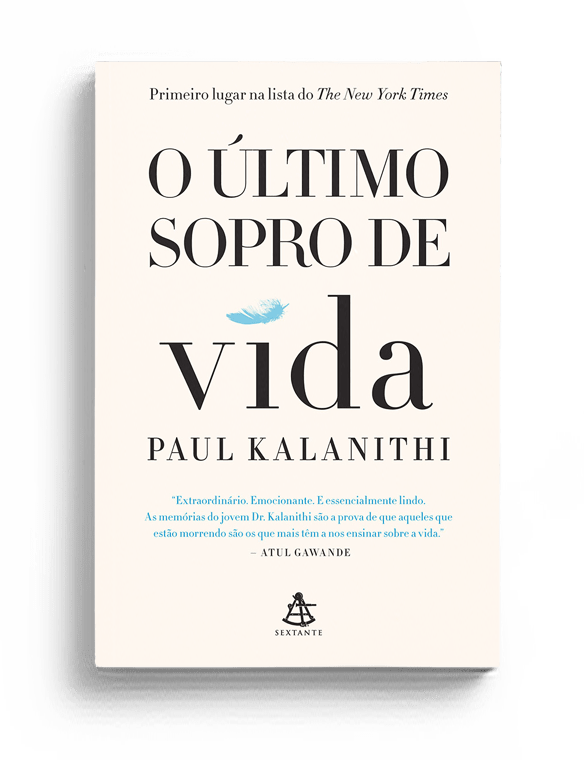
 LEIA MAIS
LEIA MAIS