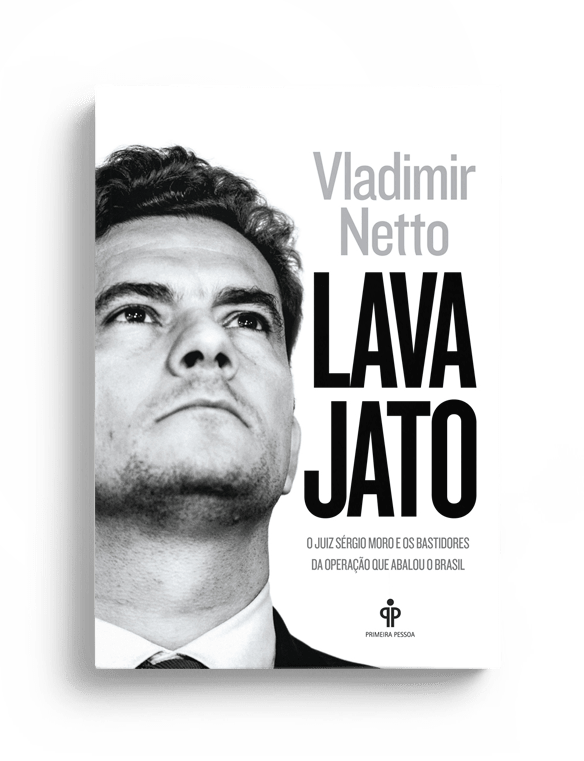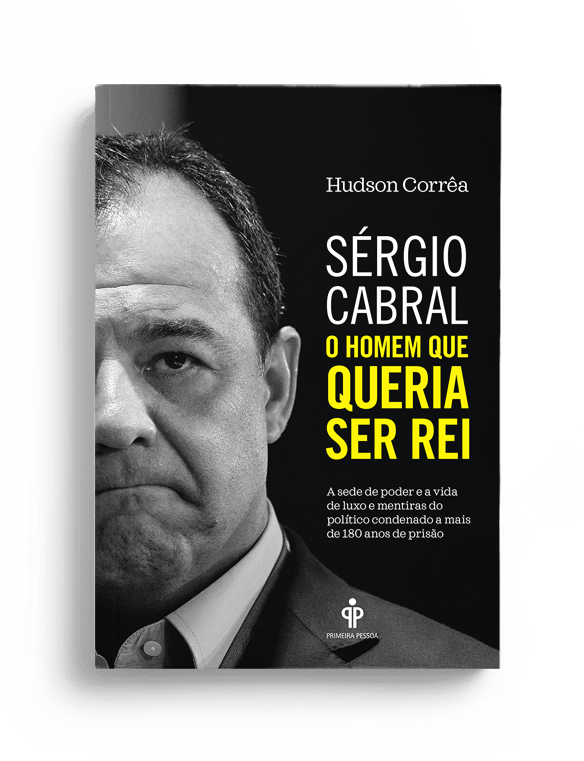Introdução
No outono de 2005, sem muitas expectativas grandiosas, decidi criar um blog sobre política. Na época, eu mal sabia quanto essa decisão acabaria mudando a minha vida. Minha principal motivação foi uma apreensão crescente em relação às teorias de poder radicais e extremistas adotadas pelo governo dos Estados Unidos após o 11 de Setembro, e eu esperava que escrever sobre essas questões fosse me possibilitar um impacto maior do que o proporcionado por minha carreira de advogado especializado em direito constitucional e direitos civis.
Apenas sete semanas depois de lançado o blog, o New York Times soltou uma bomba: segundo o jornal, em 2001 o governo Bush tinha dado uma ordem secreta à NSA – a Agência de Segurança Nacional – para espionar as comunicações eletrônicas dos norte-americanos sem obter os mandados exigidos pela legislação criminal vigente. Quando revelada, a espionagem já durava quatro anos e tivera como alvo, no mínimo, muitos milhares de cidadãos do país.
O tema era uma convergência perfeita entre minhas paixões e minha especialidade. O governo tentou justificar o programa secreto da NSA evocando exatamente o tipo de teoria extremista de poder executivo que havia me motivado a começar a escrever: a ideia de que a ameaça do terrorismo dava ao presidente autoridade praticamente ilimitada para fazer qualquer coisa de modo a “garantir a segurança da nação”, inclusive violar a lei. O debate subsequente envolvia questões complexas relacionadas ao direito constitucional e à interpretação dos estatutos que minha formação jurídica me permitia abordar com conhecimento de causa.
Passei os dois anos seguintes cobrindo todos os aspectos do escândalo da espionagem não autorizada da NSA, tanto no meu blog quanto em um livro lançado em 2006, que se tornou um best-seller. Minha posição era clara: ao ordenar uma vigilância ilegal, o presidente havia cometido crimes e deveria ser responsabilizado por eles. No clima político cada vez mais opressivo e impregnado de patriotismo fanático do país, esta se revelou uma posição muito controversa.
Foi esse histórico que, muitos anos mais tarde, levou Edward Snowden a me escolher como seu primeiro contato para revelar abusos cometidos pela NSA em escala ainda mais monumental. Ele disse que acreditava poder confiar em mim para entender os perigos da vigilância em massa e do sigilo excessivo do Estado, e também para não recuar ante pressões do governo e de seus muitos aliados na mídia e em outras áreas.
O volume impressionante de documentos ultrassecretos que Snowden me transmitiu, bem como as fortes emoções dos acontecimentos relacionados à sua pessoa, gerou um interesse mundial inédito pela ameaça da vigilância eletrônica em massa e pelo valor da privacidade na era digital. Os problemas subjacentes, porém, já vinham se agravando havia muitos anos, quase sempre em segredo.
A polêmica atual em relação à NSA tem, sem dúvida, muitos aspectos singulares. A tecnologia de hoje possibilita um tipo de vigilância onipresente, antes restrita aos mais criativos autores de ficção científica. Além disso, a veneração dos Estados Unidos pela segurança acima de tudo, iniciada após o 11 de Setembro, criou um ambiente particularmente propício aos abusos de poder. Graças à coragem de Snowden e à relativa facilidade de copiar informações digitais, temos a possibilidade única de observar em primeira mão os detalhes de como o sistema de vigilância de fato funciona.
Apesar disso, as questões levantadas pelo caso da NSA remetem, sob muitos aspectos, a diversos episódios históricos ocorridos em séculos passados. Na verdade, a oposição à invasão da privacidade pelo governo foi um fator decisivo para a fundação dos próprios Estados Unidos, quando colonos norte-americanos protestaram contra leis que permitiam aos agentes do governo britânico saquear qualquer casa que quisessem. Os colonos concordavam que fosse legítimo o Estado obter mandados específicos para revistar pessoas quando os indícios estabelecessem uma causa provável para suas infrações. Mas os mandados genéricos – a prática de submeter a população inteira a revistas indiscriminadas – eram fundamentalmente ilegítimos.
A Quarta Emenda constitucional entronizou essa ideia no direito norte-americano. Seus termos são claros e sucintos: “O direito dos cidadãos à segurança de sua pessoa, de suas casas, de seus documentos e de seus bens contra revistas e confiscos não fundamentados não será violado, e só serão emitidos mandados mediante causa provável, sustentados por juramento ou declaração, e que descrevam em pormenores o local a ser revistado e as pessoas ou coisas a serem confiscadas.” O objetivo da emenda, acima de tudo, era abolir para sempre no país o poder do governo de submeter os cidadãos a uma vigilância generalizada e sem suspeita prévia.
O desacordo relacionado à vigilância no século XVIII girava em torno de revistas domiciliares, mas, à medida que a tecnologia evoluiu, a vigilância também evoluiu. Em meados do século XIX, com a expansão das ferrovias – permitindo uma entrega de correio rápida e barata –, a abertura ilegítima de toda a correspondência pelo governo britânico provocou um forte escândalo no Reino Unido. Nas primeiras décadas do século XX, o Escritório de Investigação dos Estados Unidos – precursor do atual FBI – utilizava grampos, além de monitorar correspondências e usar informantes, para controlar quem se opusesse às políticas nacionais.
Sejam quais forem as técnicas envolvidas, a vigilância em massa apresentou várias características constantes ao longo da história. Em primeiro lugar, são sempre os dissidentes e marginalizados do país que suportam o peso maior dessa vigilância, o que leva aqueles que apoiam o governo, ou os que são simplesmente apáticos, à crença equivocada de que estão imunes. E a história mostra que a simples existência de um aparato de vigilância em massa, seja ele usado da forma que for, por si só já basta para sufocar a dissidência. Uma população consciente de estar sendo vigiada logo se torna obediente e temerosa.
Em meados dos anos 1970, uma investigação da espionagem doméstica conduzida pelo FBI fez a chocante descoberta de que a agência havia rotulado meio milhão de cidadãos norte-americanos como “subversivos” em potencial e espionava pessoas regularmente com base apenas em suas crenças políticas. (A lista de alvos ia de Martin Luther King a John Lennon, do Movimento de Liberação Feminina à anticomunista Sociedade John Birch.) Mas a praga do abuso da vigilância está longe de ser uma exclusividade da história dos Estados Unidos. Pelo contrário: ela é a tentação universal de qualquer poder inescrupuloso. E em todos os casos o motivo é sempre o mesmo: eliminar dissidências e garantir a submissão.
Assim, a vigilância une governos cujas doutrinas políticas são notavelmente divergentes em outros temas. Na virada para o século XX, tanto o Império Britânico quanto o Império Francês criaram departamentos especializados em monitoramento para lidar com a ameaça dos movimentos anticolonialistas. Após a Segunda Guerra Mundial, o Ministério da Segurança Estatal da Alemanha Oriental, conhecido como Stasi, tornou-se um sinônimo de intromissão governamental na vida privada da população. E há pouco tempo, quando os protestos populares da Primavera Árabe ameaçaram o controle do poder pelos ditadores, os regimes da Síria, do Egito e da Líbia passaram a espionar o uso da internet por dissidentes internos.
Investigações conduzidas pelo canal de notícias Bloomberg e pelo Wall Street Journal mostraram que, ao serem ameaçadas pelos manifestantes, essas ditaduras literalmente foram às compras para obter dispositivos de vigilância junto a empresas de tecnologia ocidentais. Na Síria, o regime de Assad convocou funcionários da empresa de vigilância italiana Area SpA e lhes disse que precisava “rastrear pessoas com urgência”. No Egito, a polícia secreta de Mubarak comprou equipamentos para quebrar a criptografia do Skype e interceptar chamadas de ativistas. E na Líbia, segundo o periódico, jornalistas e rebeldes que entraram em um centro de monitoramento do governo em 2011 encontraram “uma parede inteira de aparelhos pretos do tamanho de geladeiras” da empresa de vigilância francesa Amesys. O aparato “inspecionava o tráfego de internet” do principal provedor líbio, “abrindo e-mails, desvendando senhas, bisbilhotando chats e mapeando conexões entre vários suspeitos”.
A habilidade para interceptar as comunicações das pessoas confere imenso poder a quem o faz. A menos que esse poder seja contido por uma rígida supervisão e prestação de contas, quase certamente haverá abusos. Esperar que o governo dos Estados Unidos opere uma imensa máquina de vigilância em total sigilo, sem ceder às tentações que isso representa, contraria todos os exemplos históricos e todos os indícios disponíveis sobre a natureza humana.
De fato, antes mesmo das revelações de Snowden, já estava ficando claro que tratar os Estados Unidos como um país de alguma forma excepcional no que tange à questão da vigilância é uma postura bastante ingênua. Em 2006, em uma audiência no Congresso intitulada “A internet na China: ferramenta de liberdade ou de supressão?”, sucederam-se pronunciamentos condenando empresas de tecnologia norte-americanas por ajudarem a China a eliminar dissidências na internet. Christopher Smith, deputado republicano pelo estado de Nova Jersey, que presidiu a audiência, equiparou a cooperação do Yahoo com a polícia secreta chinesa a entregar Anne Frank aos nazistas. Seu discurso foi uma arenga feroz, um espetáculo típico de quando representantes do governo norte-americano discorrem sobre um regime não alinhado com os Estados Unidos.
No entanto, nem mesmo quem compareceu à audiência pôde deixar de notar que ela ocorreu coincidentemente apenas dois meses depois de o New York Times revelar a vasta operação de grampos não autorizados conduzida pela administração Bush. À luz dessas descobertas, denunciar outros países por realizarem a própria vigilância doméstica perdia todo o sentido. Brad Sherman, deputado democrata pela Califórnia, discursou depois de Smith e observou que as empresas de tecnologia às quais se estava aconselhando resistir ao regime chinês também deveriam tomar cuidado com seu próprio governo. “Caso contrário”, afirmou ele, profético, “embora os chineses possivelmente tenham sua privacidade violada de maneira abominável, pode ser que nós, aqui nos Estados Unidos, também descubramos que talvez algum futuro presidente, em nome dessas interpretações muito genéricas da Constituição, esteja lendo nossos e-mails, e eu preferiria que isso não acontecesse sem um mandado judicial.”
Nas últimas décadas, o temor relacionado ao terrorismo – intensificado pelos constantes exageros quanto ao risco real – vem sendo explorado por líderes norte-americanos para justificar uma ampla gama de políticas extremistas. Isso conduziu a guerras de agressão, a um regime de tortura com abrangência mundial e à detenção (até mesmo ao assassinato) de cidadãos estrangeiros e norte-americanos sem qualquer acusação. Mas o onipresente e sigiloso sistema de vigilância indiscriminada gerado por esse temor pode muito bem vir a se revelar seu legado mais duradouro. Isso porque, apesar de todos os paralelos históricos, o escândalo da NSA tem também uma dimensão genuinamente nova: o papel desempenhado hoje pela internet na vida cotidiana das pessoas.
Sobretudo para as gerações mais jovens, a grande rede não é um universo isolado, separado, no qual são realizadas algumas das funções da vida. A internet não é apenas nosso correio e nosso telefone. Ela é a totalidade do nosso mundo, o lugar onde quase tudo acontece. É lá que se faz amigos, se escolhe livros e filmes, se organiza o ativismo político, e é lá que são criados e armazenados os dados mais particulares de cada um. É na internet que desenvolvemos e expressamos nossa personalidade e individualidade.
Transformar essa rede em um sistema de vigilância em massa tem implicações muito diferentes das de quaisquer outros programas semelhantes anteriores do governo. Todos os antigos sistemas de espionagem eram obrigatoriamente mais limitados e propensos a serem driblados. Permitir que a vigilância crie raízes na internet significaria submeter quase todas as formas de interação, planejamento e até mesmo pensamento humanos ao escrutínio do Estado.
Desde que começou a ser usada de forma ampla, a internet foi vista por muitos como detentora de um potencial extraordinário: o de libertar centenas de milhões de pessoas graças à democratização do discurso político e ao nivelamento entre indivíduos com diferentes graus de poder. A liberdade na rede – a possibilidade de usá-la sem restrições institucionais, sem controle social ou estatal, e sem a onipresença do medo – é fundamental para que essa promessa se cumpra. Converter a internet em um sistema de vigilância, portanto, esvazia seu maior potencial. Pior ainda: a transforma em uma ferramenta de repressão, e ameaça desencadear a mais extrema e opressiva arma de intrusão estatal já vista na história humana.
É isso que torna as revelações de Snowden tão estarrecedoras e lhes confere uma importância tão vital. Quando se atreveu a expor a capacidade espantosa de vigilância da NSA e suas ambições mais espantosas ainda, ele deixou bem claro que estamos em uma encruzilhada histórica. Será que a era digital vai marcar o início da liberação individual e da liberdade política que só a internet é capaz de proporcionar? Ou ela vai criar um sistema de monitoramento e controle onipresentes, que nem os maiores tiranos do passado foram capazes de conceber? Hoje, os dois caminhos são possíveis. São as nossas ações que irão determinar nosso destino.

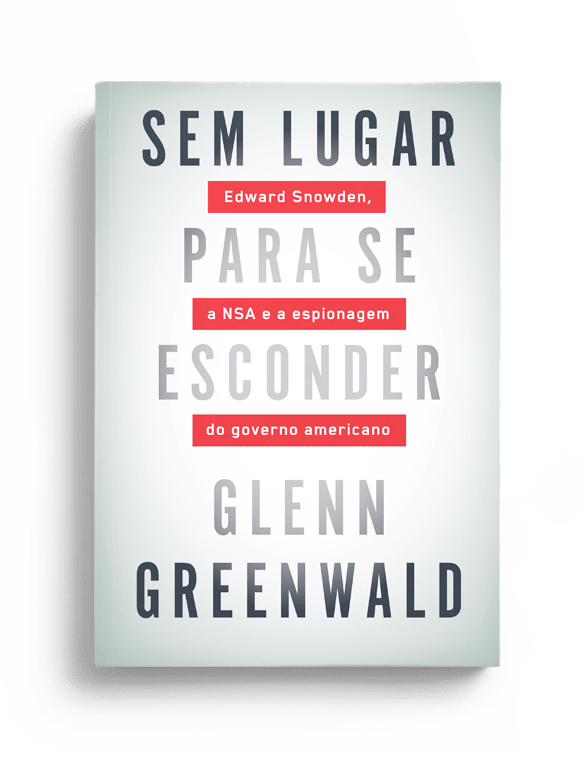
 LEIA MAIS
LEIA MAIS