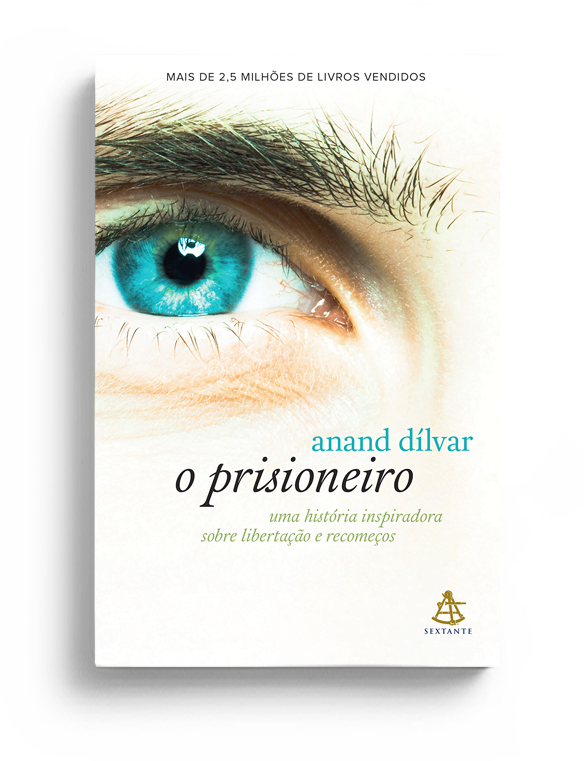O amor que você não exprime hoje se perde para sempre
“Não quero morrer. Só quero fugir”, diz o narrador nas primeiras páginas de O prisioneiro. A fuga, nesse caso, viria com o auxílio de dois comprimidos azuis dados por um amigo. Um grave acidente de carro altera abruptamente a rota e o aloja numa prisão cujo limite é o próprio corpo. Imóvel numa cama de […]
|

“Não quero morrer. Só quero fugir”, diz o narrador nas primeiras páginas de O prisioneiro. A fuga, nesse caso, viria com o auxílio de dois comprimidos azuis dados por um amigo. Um grave acidente de carro altera abruptamente a rota e o aloja numa prisão cujo limite é o próprio corpo. Imóvel numa cama de hospital, de olhos abertos, ele ouve e vê, mas não fala nem é ouvido. É um vegetal apodrecendo em vida, segundo a segundo mais próximo do fim. Ao prisioneiro resta a espera e, no tempo interminável da espera, surge a chance de renascer.
O livro de Anand Dílvar funciona como uma fábula sobre escolhas e possibilidades de recomeços. A situação retratada aqui é extrema, mas espelha conflitos triviais com os quais se convive diariamente. Afinal, cada escolha impõe uma sentença e, entres erros e acertos, se faz uma vida. Ao viver encarcerado em si, o prisioneiro tem a oportunidade de investigar medos e refletir sobre sua experiência como filho, irmão e namorado – e se projetar como o pai que ainda não é. Sem a capacidade de se movimentar, seus deslocamentos são interiores e proporcionam inegável crescimento espiritual. Assim, ele reorienta sua fuga e descobre que pode e deve se redescobrir. Essa também é uma valiosa forma de liberdade.
“O que o mantém preso? Do que você é escravo? Das feridas que teve quando criança? Dos traumas da infância? Do que outra pessoa decidiu que você deveria ser? De um relacionamento frustrado? De um emprego de que não gosta? Da sua rotina? Liberte-se! Tire das costas a bolsa em que guarda ressentimentos, arrependimentos e culpas. Pare de culpar os outros e o passado pelo o que não deu certo em sua vida. Todos os dias você tem a oportunidade de recomeçar”.
A ideia de renascimento é evidente na obra – não à toa, a jornada do prisioneiro dura nove meses, o tempo padrão de uma gestação -, assim como a perspectiva da fé. A zelosa enfermeira que cuida do narrador se chama Faith, fé em inglês. Curiosamente, mais ninguém a conhece. “Sua presença em minha vida vai ser sempre um mistério para mim”, ele afirma, agradecido.
De quem é a culpa?
O livro está alinhado aos pensamentos da terapia Gestalt, que busca se desvencilhar do determinismo do passado e visa o desenvolvimento pessoal. O ato de culpar os outros por problemas que carregamos é visto como uma tendência alienante: portanto, precisa ser encaixotado e jogado fora. Somos ou não somos responsáveis por nossas escolhas?
Esse é um aprendizado fundamental para o prisioneiro. A solidão do hospital e a sensação de morte em vida são diluídas com as visitas da família e de Faith, mas também pela presença de uma voz interior, um guia espiritual, determinante nessa redescoberta. O que todos fazem ao prisioneiro é lembrá-lo do essencial que nos escapa: “Quando você pretende dizer às pessoas que as ama e se preocupa com elas? O amor que você não exprime hoje se perde para sempre”, conclui.
Num momento decisivo, quando a chance de renascimento parecia improvável, o prisioneiro se propõe a escrever cartas mentais às pessoas importantes da sua vida. É um exercício de perdão; perdão do outro e de si mesmo. E de gratidão também.
A última carta é endereçada a ele mesmo. Nestas palavras, está o princípio da libertação do prisioneiro:
“Hoje me desfaço de velhos ressentimentos contra os outros e contra mim.
Hoje rompo as correntes com que eu me prendia.
Hoje me liberto do medo e da culpa.
Hoje me perdoo por todos os erros que cometi.
Hoje admito que ninguém controla meus pensamentos.
Hoje admito que ninguém controla meus sentimentos.
Hoje eu me declaro livre de todas as feridas.
Hoje é um bom dia para morrer.
Eu me amo.
Sou a pessoa mais importante da minha vida”.