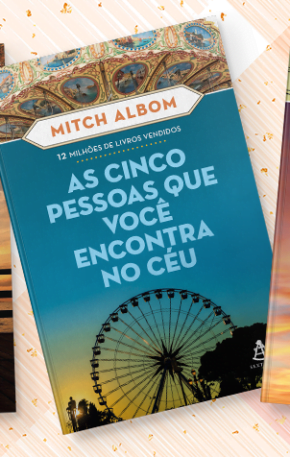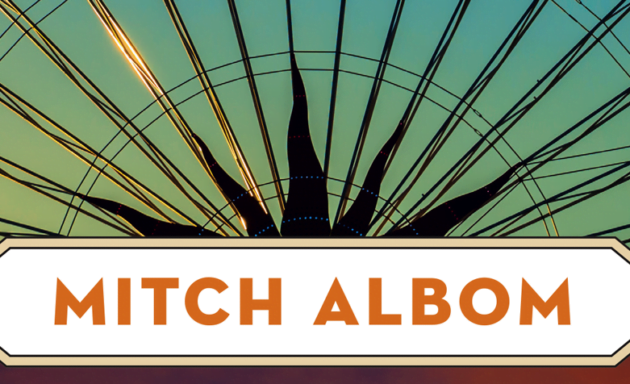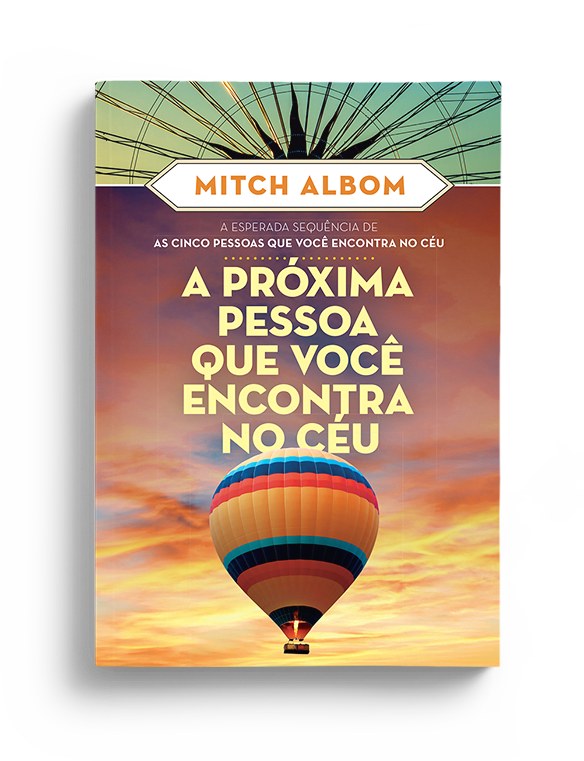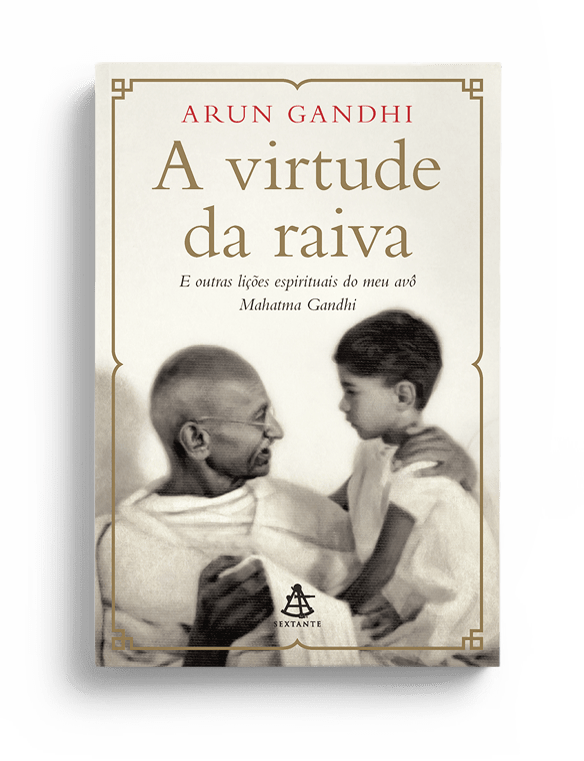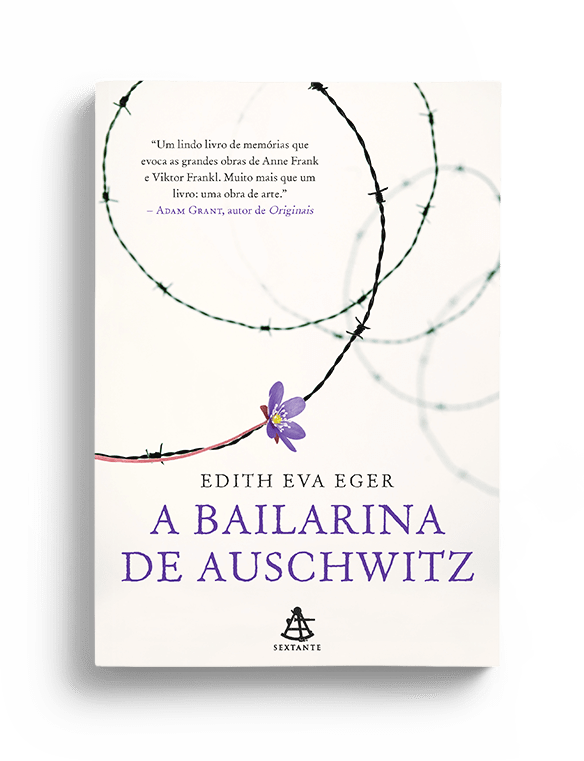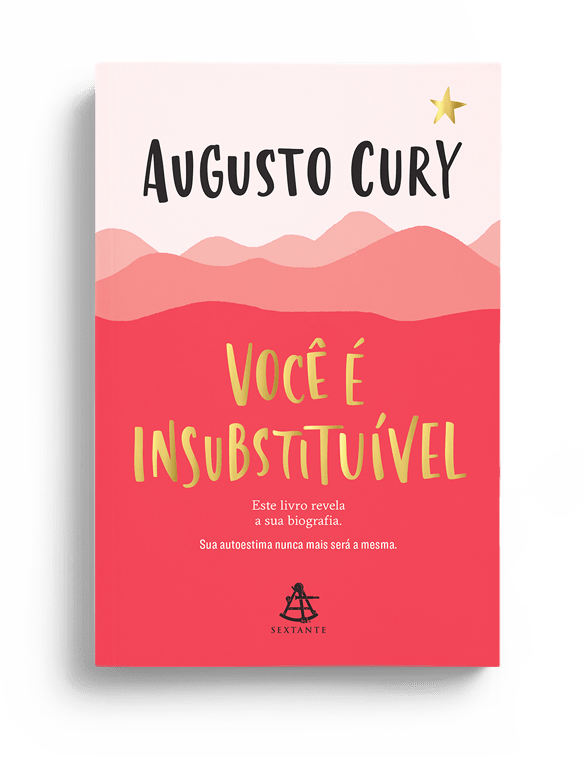O currículo
As últimas aulas da vida do meu velho professor foram dadas uma vez por semana na casa dele, ao pé de uma janela do estúdio de onde ele podia olhar um hibisco pequenino lançar suas flores róseas. As aulas eram às terças-feiras, depois do café da manhã. O assunto era o sentido da vida. A lição era tirada da experiência.
Não havia notas, mas havia exames orais toda semana. O professor fazia perguntas, e o aluno também podia perguntar. O aluno devia praticar atividades físicas de vez em quando, tais como colocar a cabeça do professor em posição confortável no travesseiro ou ajeitar os óculos dele no cavalete do nariz. Beijar o professor antes de sair contava ponto.
Não havia compêndios, mas muitos tópicos eram debatidos – amor, trabalho, comunidade, família, envelhecimento, perdão e, finalmente, morte. A última palestra foi breve, só algumas palavras. Em vez de colação de grau, um enterro.
Mesmo não havendo exame final, o aluno devia apresentar um trabalho extenso sobre o que ele aprendera. Esse trabalho é apresentado aqui.
O derradeiro curso da vida do meu velho professor só teve um aluno. Que sou eu.
______
Uma tarde quente e úmida de sábado, no fim da primavera
de 1979. Centenas de alunos sentados lado a lado em cadeiras de dobrar, no gramado maior do campus. Usamos becas de náilon azul. Escutamos impacientes os discursos compridos. Acabada a cerimônia, jogamos nossos chapéus para o alto e somos oficialmente declarados graduados, os alunos do último ano de faculdade da Universidade Brandeis, sediada em Waltham, Massachusetts. Para muitos de nós, baixava-se a cortina da infância.
A seguir encontro Morrie Schwartz, meu professor predileto, e o apresento a meus pais. Morrie é baixinho e caminha a passos curtos, como se um vento forte pudesse levá-lo para as nuvens a qualquer momento. Com a beca para o dia de formatura, ele parece uma mistura de profeta bíblico e elfo natalino. Tem olhos azul-esverdeados brilhantes, cabelo prateado ralo caído na testa, orelhas grandes, nariz triangular e espessas sobrancelhas acinzentadas. Apesar dos dentes superiores tortos e dos inferiores inclinados para dentro – como se ele tivesse levado um soco na boca –, o sorriso é sempre o de quem acabou de ouvir a primeira piada contada no mundo.
Diz a meus pais que eu fiz todos os cursos ministrados por ele e que sou “um garoto especial”. Encabulado, baixo os olhos para os pés. Antes de nos separarmos, entrego a meu professor um presente, uma pasta castanha com as iniciais dele, que eu havia comprado no dia anterior. Eu não queria esquecê-lo. Ou talvez não quisesse que ele me esquecesse.
– Mitch, você é dos bons – diz ele admirando a pasta. Depois me abraça. Sinto os braços magros me envolvendo. Sou mais alto do que ele e, quando me abraça, sinto-me canhestro, mais velho, como se eu fosse o pai e ele, o filho.
Pergunta se vou manter contato. Sem hesitar, respondo que sim.
Quando ele me solta, vejo que está chorando.
O programa
A sentença de morte dele foi dada no verão de 1994. Mas agora tudo indica que Morrie já sabia bem antes que alguma coisa ruim estava para acontecer. Ficou sabendo no dia em que parou de dançar.
Meu velho professor sempre fora dançarino. Não importava a música. Rock and roll, jazz, blues. Apreciava de tudo. Fechava os olhos e, com um sorriso beatífico, começava a se mexer no seu próprio ritmo. Nem sempre era bonito de se ver. Mas também ele não se preocupava com o par. Morrie dançava sozinho.
Ia a uma igreja de Harvard Square toda noite de quarta-feira, porque lá havia o que chamavam de “Dança Grátis”. Entre luzes piscantes e som alto, Morrie se movimentava na multidão quase toda de estudantes, usando uma camiseta branca, calça preta de malha e uma toalha no pescoço. Qualquer música que tocassem era a música que ele dançava. Dançava o lindy no compasso de Jimi Hendrix. Contorcia-se e rodava, agitava os braços como regente sob efeito de anfetaminas, até o suor escorrer pelo meio das costas. Ninguém ali sabia que ele era um famoso doutor em Sociologia, com longa experiência e muitos livros importantes publicados. Pensavam que fosse um velhote excêntrico. Uma vez ele levou uma fita de tango e pediu que a tocassem. Depois, tomou o comando da pista, correndo para lá e para cá como um ardente amante latino. Quando acabou, todos aplaudiram. Ele podia ter permanecido para sempre vivendo aquele momento.
De repente, a dança terminou.
Depois dos 60 anos, ele começou a ter asma. A respiração ficou difícil. Um dia, passeando pela margem do rio Charles, um sopro de vento frio deixou-o com falta de ar. Levado às pressas para o hospital, deram-lhe adrenalina injetável.
Anos depois, Morrie começou a ter dificuldade de andar. Numa festa de aniversário de um amigo, ele cambaleou inexplicavelmente. Outra noite, caiu ao descer os degraus de um teatro, assustando um grupo grande de pessoas.
– Afastem-se, ele precisa de ar! – gritou alguém.
Nessa altura, ele tinha mais de 70 anos, por isso atribuíram o acidente à velhice e o ajudaram a se levantar. Mas Morrie, que sempre estava em contato com o seu organismo mais do que estamos com o nosso, sabia que alguma coisa se desarrumara nele. Não era só problema de idade. Sentia-se sempre cansado. Não dormia bem. Sonhava que estava morrendo.
Passou a consultar médicos. Muitos médicos. Examinaram-lhe o sangue. A urina. Enfiaram-lhe uma sonda pelo ânus e examinaram os intestinos. Finalmente, nada descobrindo, um médico pediu uma biópsia de músculo. Para isso extraíram um pedacinho da batata da perna dele. O laudo do laboratório indicava a possibilidade de algum problema neurológico, e Morrie foi internado para mais uma série de exames. Num desses exames, sentaram-no numa cadeira especial e o submeteram a uma corrente elétrica – espécie de cadeira elétrica – e estudaram as reações neurológicas.
– Precisamos ir mais fundo nisso – disseram os médicos diante dos resultados.
– Por quê? – perguntou Morrie. – Do que se trata?
– Não sabemos ao certo. Os seus ritmos estão lentos.
Ritmos lentos? O que significava isso?
Finalmente, num dia quente e úmido de agosto de 1994, Morrie e a esposa, Charlotte, foram ao consultório do neurologista, que os convidou a se sentarem antes de ouvirem o diagnóstico: esclerose lateral amiotrófica (ela), a doença de Lou Gehrig, enfermidade implacável, e ainda incurável, do sistema nervoso.
– Como a contraí? – perguntou Morrie.
Ninguém sabia.
– É terminal?
Era.
– Quer dizer que vou morrer?
O médico confirmou, e disse que lamentava muito.
Passou quase duas horas com Morrie e Charlotte, respondendo pacientemente às perguntas que eles faziam. Deu-lhes informações e folhetos sobre a doença como se eles estivessem querendo abrir uma conta em banco. Na rua o sol brilhava, gente andava apressada de um lado para outro. Uma senhora corria para introduzir dinheiro no parquímetro. Outra carregava compras. Pela cabeça de Charlotte passavam milhões de pensamentos. Quanto tempo nos resta? Como o administraremos? Como pagaremos as contas?
Entretanto, o meu velho professor estava admirado da normalidade do dia em torno dele. O mundo não deveria parar? Ignoram eles o que me aconteceu?
O mundo não parou, e, quando Morrie quis abrir a porta do carro, sentiu-se como caindo num buraco. E essa agora?, pensou.
______
Enquanto ele buscava respostas, a doença avançava dia a dia, semana a semana. Certa manhã, ao dar marcha a ré no carro para sair da garagem, não teve força para acionar a embreagem. Terminava aí a sua vida de motorista.
Para não cair, comprou uma bengala. Assim terminou o seu tempo de andar livremente.
Nadava regularmente no clube, mas descobriu que não conseguia mais se despir. Assim, contratou o seu primeiro ajudante pessoal, um estudante de Teologia chamado Tony, que o auxiliava a entrar e sair da piscina, a vestir e tirar o calção. No vestiário, os outros nadadores fingiam não olhar, mas olhavam. Aí terminava a sua privacidade.
No outono de 1994, ele foi ao campus da Brandeis dar o seu derradeiro curso. Não precisava fazer isso, a universidade teria compreendido. Por que sofrer diante de tanta gente? Ficasse em casa. Pusesse a vida em ordem. Mas a ideia de desistir não ocorreu a Morrie.
Assim, ele entrou claudicante na sala de aula, onde estivera por mais de trinta anos. Apoiado na bengala, levou tempo para chegar à cadeira. Finalmente sentou-se, deixou cair os óculos e olhou para os rostos jovens, que o fitavam silenciosamente.
– Meus amigos, imagino que estejam aqui para a aula de Psicologia Social. Venho ministrando este curso há muitos anos, e esta é a primeira vez que posso falar do risco que existe em segui-lo, porque estou sofrendo de uma doença fatal. Posso morrer antes de terminado o semestre. Se acharem que isso é um problema, podem desistir do curso; eu compreenderei.
Morrie sorriu.
E assim terminava o seu segredo.
______
A ela é como vela acesa: derrete os nervos e deixa o corpo como uma estalagmite de cera. Geralmente começa nas pernas e vai subindo.
A pessoa perde o comando dos músculos das coxas e não aguenta ficar de pé. Perde o comando dos músculos do tronco e não consegue sentar-se ereta. No fim, se continua viva, respira por um tubo introduzido num orifício aberto na garganta; e a alma, perfeitamente alerta, fica aprisionada numa casca inerte, podendo talvez piscar, estalar a língua, como coisa de filme de ficção científica – a pessoa congelada no próprio corpo. Isso não dura mais de cinco anos, contados do dia em que se manifesta a doença.
Os médicos deram a Morrie mais dois anos.
Ele sabia que seria menos.
Mas o meu velho professor havia tomado uma decisão importante, na qual começara a pensar no dia em que saiu do consultório do médico com uma espada sobre a cabeça. Vou me entregar e sumir, ou aproveitar da melhor maneira o tempo que me resta? – indagou a si mesmo.
Não ia se entregar. Não ia se envergonhar de sua morte decretada.
Decidiu que faria da morte o seu derradeiro projeto, o ponto central de seus dias. Já que todos vão morrer um dia, ele poderia ser de grande valia. Podia ser um campo de pesquisa. Um compêndio humano. Estudem-me em meu lento e paciente processo de extinção. Observem o que acontece comigo. Aprendam comigo.
Morrie ia atravessar a ponte entre a vida e a morte e narrar a travessia.
O semestre do outono passou rápido. A quantidade de comprimidos aumentou. O tratamento tornou-se rotina. Morrie recebia enfermeiras em casa para lhe exercitarem as pernas flácidas, manterem os músculos em atividade, dobrarem as pernas para trás repetidamente, como se bombeassem água de uma cisterna. Massagistas o visitavam uma vez por semana para aliviar o constante entorpecimento que ele sentia. Recebia professores de meditação, fechava os olhos e estreitava o campo do pensamento até reduzir o mundo ao simples inalar e exalar, inspirar e expirar.
Um dia, apoiado na bengala, ele tropeçou no meio-fio e caiu na rua. A bengala foi substituída por um andador. Logo a ida ao banheiro ficou muito cansativa, e ele passou a urinar num caneco grande. Para fazer isso, precisava ficar em pé, o que significava que alguém tinha de segurar o caneco para ele.
A maioria das pessoas ficaria encabulada com isso, principalmente na idade de Morrie. Mas ele não era como a maioria. Quando um de seus colegas mais íntimos o visitava, ele dizia: “Olhe, preciso urinar. Você não se importa de me ajudar?”
Para sua própria surpresa, eles não se importavam.
Ele recebia uma procissão cada vez maior de visitas. Formou grupos de debate sobre a morte, sobre o que significa o medo de morrer que as sociedades sempre tiveram, apesar de não compreenderem bem a morte. Disse aos amigos que, se quisessem mesmo ajudá-lo, não o tratassem com pena, mas com visitas, telefonemas, dividissem com ele os seus problemas, como sempre tinham feito, porque Morrie sempre fora um bom ouvinte.
Apesar de tudo por que passava, a voz de Morrie era forte e estimulante, e sua mente trepidava com um milhão de pensamentos. Estava empenhado em mostrar que a palavra “morrente” não é sinônimo de “inútil”.
O Ano-Novo veio e se foi. Mesmo sabendo que aquele seria o último ano de sua vida, Morrie não disse isso a ninguém. Já precisava de uma cadeira de rodas, e lutava contra o tempo para conseguir dizer às pessoas que amava tudo o que tinha para lhes dizer. Quando um colega da Brandeis morreu subitamente de enfarte, Morrie voltou deprimido do enterro.
– Que pena Irv não ter ouvido aquelas homenagens todas – disse.
Pensando nisso, teve uma ideia. Deu uns telefonemas, escolheu uma data. E numa tarde fria de domingo reuniu a família e um grupo pequeno – a mulher, os dois filhos e alguns de seus amigos mais íntimos – em sua casa para um “funeral ao vivo”. Um a um, todos homenagearam o meu velho professor. Uns choraram. Outros riram. Uma senhora leu um poema:
Meu querido, meu amado primo…
Seu coração atemporal
enquanto você segue tempo afora,
uma camada sobre outra,
delicada sequoia…
Morrie chorou e riu com eles. Tudo aquilo que sentimos bem no íntimo e nunca dizemos às pessoas que amamos foi dito por Morrie naquele dia. O “funeral ao vivo” foi um sucesso.
Só que Morrie ainda não tinha morrido.
Aliás, a parte mais extraordinária de sua vida estava por vir.


 LEIA MAIS
LEIA MAIS