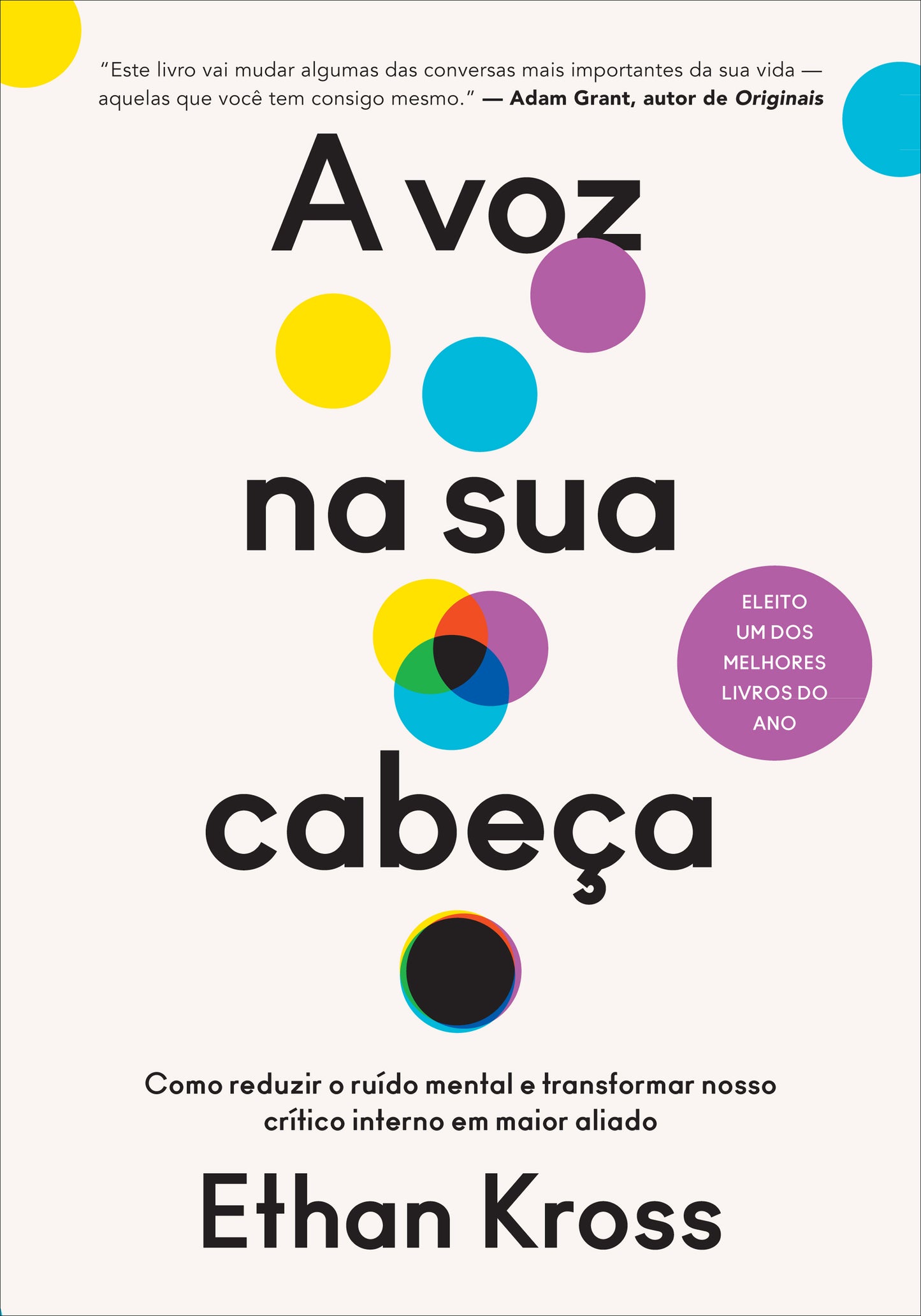A voz na sua cabeça
Como reduzir o ruído mental e transformar nosso crítico interno em maior aliado
A voz na sua cabeça
A voz na sua cabeça
Como reduzir o ruído mental e transformar nosso crítico interno em maior aliado
A voz na sua cabeça
Nossos revendedores
Eleito um dos melhores livros do ano.
“Este livro vai mudar algumas das conversas mais importantes da sua vida — aquelas que você tem consigo mesmo.” — Adam Grant, autor de Originais
“Ethan Kross apresenta ciência de ponta alinhada a histórias fascinantes para revelar as ferramentas que as pessoas podem usar para lidar com os pensamentos negativos. Uma obra valiosa e irresistível.” — Carol Dweck, autora de Mindset
O renomado neurocientista e psicólogo Ethan Kross explora a natureza das conversas que temos com nós mesmos e explica por que essa fonte de sabedoria muitas vezes sabota nosso bem-estar físico e mental.
Todos nós temos uma voz interna que nos ajuda a manter o foco, traçar objetivos, tomar decisões e relembrar os bons momentos.
Mas essa voz também pode se tornar nosso maior inimigo, ruminando emoções dolorosas e envolvendo nossos pensamentos em espirais de negatividade.
Entrelaçando pesquisas científicas inovadoras com estudos de casos e saborosas histórias reais, Kross revela como reverter esse quadro e usar o falatório mental a nosso favor.
A chave para fazer as pazes com sua voz interna não é tentar silenciá-la, e sim programá-la para falar de maneira mais eficaz.
Neste livro, você descobrirá como encontrar dentro de si mesmo todas as ferramentas necessárias para fazer isso acontecer.
A voz na sua cabeça foi eleito um dos melhores livros de 2021 por veículos como The Washington Post, Publishers Weekly e Kirkus Reviews.
Ficha técnica
Ficha técnica
Impresso
Recomendamos para você

Ethan Kross
Ethan Kross, Ph.D., é neurocientista, psicólogo e reconhecido como um dos maiores especialistas do mundo no controle da mente consciente. Professor premiado da Universidade do Michigan e da Ross School of Business, é diretor do Emotion and Self Control Lab. Sua pesquisa pioneira foi publicada nas revistas Science eThe New England Journal of Medicine. É graduado pela Universidade da Pensilvânia e obteve o Ph.D. na Universidade Columbia. É também autor de A voz na sua cabeça.