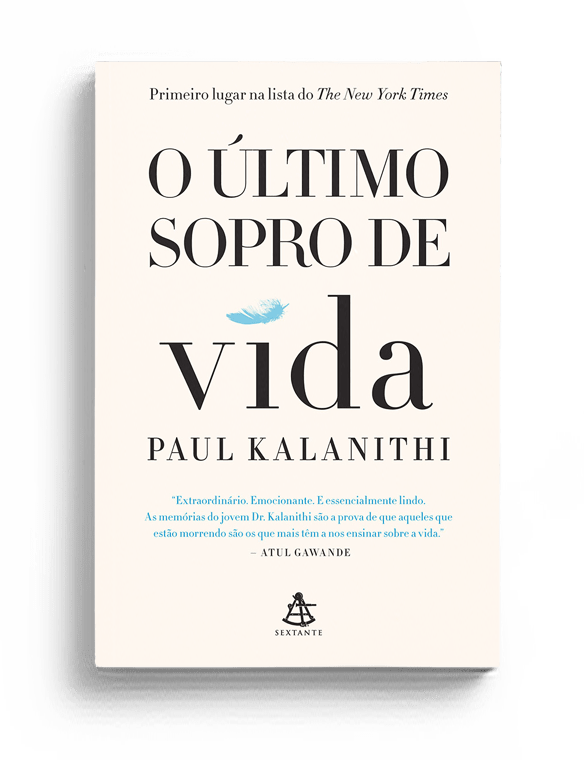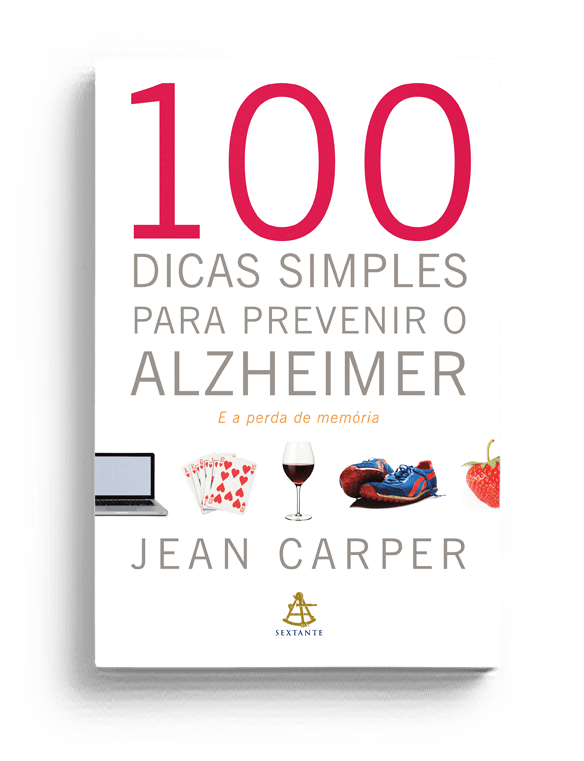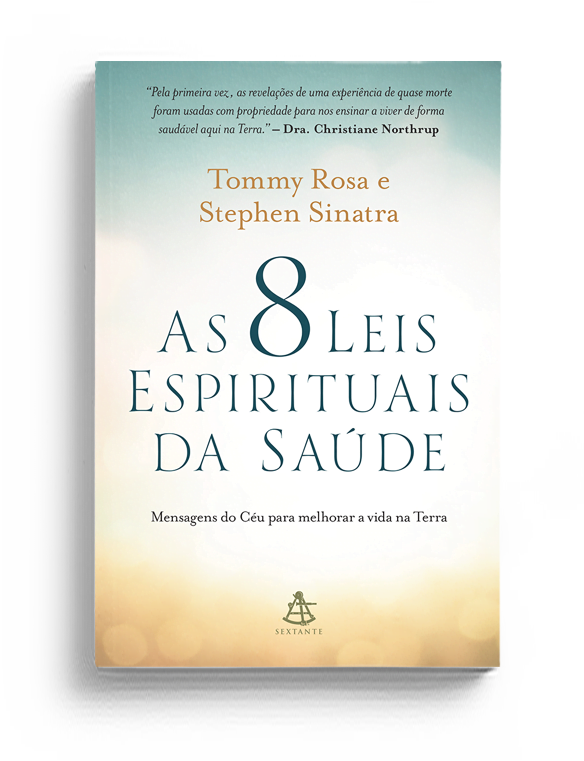Introdução
Eu me lembro de estar na sala de espera da radiologia do hospital seis semanas depois de ter sido diagnosticada com câncer de pulmão metastático “incurável”, estágio IV. Estava pronta para começar a radioterapia num grande tumor na vértebra C3, no pescoço, que vinha destruindo a minha coluna vertebral e provocando uma dor muito forte. Eu tinha múltiplos tumores em diversos locais – pulmões, nódulos linfáticos, ossos e cérebro –, mas este fora selecionado porque colocava em risco minha mobilidade e ameaçava minha “qualidade de vida”.
Segundo meus médicos, como não era possível salvar minha vida, preservar sua qualidade era agora o principal foco deles – o que me deixou irritada. Eles pareciam ter me confiado ao meu destino estatístico sem me dar a chance de ser uma das raras pessoas que inexplicavelmente superam as adversidades. Fizeram de tudo para não usar a palavra “morte” ou colocar um prazo final, mas o que estava sempre subentendido quando falavam comigo era algo como: Independentemente do que acontecer, Sra. Sabbage, não fique muito esperançosa, porque você vai morrer. Eu nem havia começado o tratamento, mas a janela da oportunidade já se fechava diante de mim.
Enquanto aguardava a sessão de radiação, ainda me sentia em estado de choque. Concordara em fazer aquele tratamento específico porque me virar na cama à noite e me levantar tinham se tornado tarefas muito difíceis. Já não conseguia pegar no colo minha filha de 4 anos. Precisava aliviar a dor para pensar, para escutar, para perguntar e, de alguma forma, de qualquer forma, decidir que diabos ia fazer.
Eu estava sem equilíbrio. Minhas mãos não conseguiam encontrar o corrimão que me ajudava a descer as escadas no escuro. Os novos procedimentos apareciam lentamente, como um cortejo de despedida de minha existência anterior: exames de imagem, idas de trem a Londres para consultas com especialistas, exames de sangue, formulários de seguro, linhas em minha agenda acrescentadas aos compromissos da fase anterior ao diagnóstico (como eventos sociais e de trabalho), encontros para contar a novidade para as pessoas de modo a torná-la real.
O câncer derrubou num instante os portões da minha vida certinha. Um dia eu estava normal, no outro uma simples dor aguda nas costas se revelou um enorme tumor pressionando meu pulmão. Ao longo de três semanas, meu diagnóstico se desdobrou em imagens aflitivamente lentas, todas elas de uma sutileza brutal em sua precisão – até que, finalmente, quando ouvi que eu tinha mais tumores no cérebro do que era possível contar, o universo explodiu como um balão de gás e ficou jogado, murcho, na minha mão trêmula.
À medida que cada exame de imagem chegava, minha força vital diminuía e se esfumava como se fosse uma lua minguante. Eu cuspia sangue quando tossia, ficava sem ar ao subir escadas e tive que parar de dirigir porque havia perdido quase toda a visão do olho esquerdo. Estava cansada e sentia frio. Muito, muito frio. Talvez fossem as doses de radiação dos exames que despejavam tão rápido uma espiral de coisas em mim, mas o próprio medo e a surpresa são forças poderosas que ricocheteiam pelo corpo como balas. Era como se o próprio conhecimento estivesse me matando. Assim que acreditei que minha vida acabara, minha força vital começou a se afastar para outra sala e a eliminar as janelas e a mobília, dobrando o meu futuro e colocando-o na última gaveta, depois diminuindo as luzes e parando os ponteiros do relógio de parede.
Eu sabia que, se quisesse ter alguma chance de estar presente no aniversário de 5 anos da minha filha e comemorar com uma grande festa os meus 49, precisava mudar a imagem da situação na minha mente. Não queria negar o que estava acontecendo comigo, mas também não me sentia disposta a aceitar as lúgubres previsões sobre o meu inevitável fim. Ficava furiosa quando as pessoas começavam a se despedir de mim e reclamava com as enfermeiras se elas me tratassem como se eu estivesse num asilo à espera da morte. Eu queria saber cada detalhe da minha situação e rejeitava as interpretações das outras pessoas sobre ela. Estava disposta a deixar o desfecho nas mãos de Deus, não na de meus médicos ou das estatísticas. Pelo tempo que fosse possível, eu queria escrever a minha própria história e de jeito algum viveria a versão deles.
Meu marido, John, me acompanhou ao hospital no dia em que fiz a primeira sessão de radioterapia. Quando ainda estava sentada na sala de espera, recebi uma mensagem afetuosa de uma amiga, e talvez não tivesse deixado as lágrimas correrem tão livremente se John não estivesse ao meu lado. A enfermeira designada para me atender se aproximou de imediato para perguntar se eu estava bem. A preocupação dela me pareceu sufocante em vez de reconfortante; era como se ela tentasse me neutralizar em vez de me apoiar, como se, de alguma forma, minhas lágrimas me prejudicassem, alarmassem os outros pacientes ou, pior, lhes dessem permissão para chorar também. Que outro momento mais adequado para chorar do que esse? Que momento mais apropriado para homenagear a vida que estava se esvaindo no rastro de meu diagnóstico, de lamentar o futuro que estava sendo arrancado de mim, de soluçar como uma viúva pela luz que se apagava?
Agora era o momento de sentir, não de emudecer; de estar totalmente atenta à minha experiência; de permitir que todo tipo de mensagem e de gesto carinhoso quebrasse qualquer barreira que ainda estivesse protegendo o meu coração; de estar acordada, consciente e viva para valorizar as coisas prazerosas que precisavam ser lembradas e as esperanças não correspondidas que precisavam ser lamentadas. Eu tinha consciência do silêncio estoico que pairava como uma névoa espessa sobre a sala de espera da radioterapia. O torpor. O rio subterrâneo de perguntas não respondidas. O terror subliminar. As orações. A intensidade dos diversos grupos de pacientes esperando que uma parte de seus corpos fosse queimada e um aspecto da nossa mortalidade ficasse órfão.
– Você está bem? – perguntou a enfermeira de novo, dessa vez com mais urgência, sua ansiedade se infiltrando em minha pele.
Segurei com suavidade a mão dela para confortá-la antes de responder:
– Acho que devo ser a única aqui que está.
Ela recuou, confusa e em dúvida sobre o que dizer ou como ajudar, já que eu não podia ser convencida a parar de chorar. Então se afastou silenciosamente e manteve distância em minhas visitas subsequentes ao hospital. Eu era uma anomalia, uma anomalia vulnerável e sem pudores num contexto onde predominava a censura ao sofrimento.
Após a radioterapia no meu pescoço, outra enfermeira se aproximou de mim e me entregou um pedaço de papel. “Esta é a data de sua próxima consulta, Sra. Sabbage”, ela disse de maneira objetiva, claramente informando que não havia mais nada que eu precisasse fazer ali naquela manhã.
Verifiquei o dia na minha agenda e disse a ela que já tinha um compromisso naquela data. Lá estava o incômodo de novo: o alarme visível no rosto da enfermeira porque eu dera a resposta errada.
– Mas é sua sessão de radioterapia – replicou ela.
– Eu entendi, mas não estarei disponível – insisti.
Talvez eu pudesse ter reagendado o que havia planejado. Talvez estivesse sendo egoísta ao não me encaixar no sistema, mas algo deu forças à minha coluna doente para manter a postura. Eu não ia aceitar aquilo. Não ia. Não ia ouvir que devia acatar a ordem sem que me fosse respeitosamente perguntado se eu tinha disponibilidade. Se havia um momento para ser egocêntrica, era esse. Desesperadamente doente, eu sabia que era vital tomar minhas próprias decisões em cada etapa da jornada – agendar meus tratamentos de acordo com meus compromissos, não o contrário; ser autora e protagonista de minha história. Apesar dos conselhos frequentes para priorizar as consultas em detrimento de todo o resto (subtexto: ou você vai morrer), uma atitude mais afirmativa em relação à vida e potencialmente mais saudável entra em cena: meu impetuoso, violento e indomável senso de identidade.
Recebi muitas outras notificações de agendamento de consultas, com as devidas datas e locais, antes de meu oncologista entender a mensagem. Não era culpa dele. O sistema no qual ele está inserido é assim: um sistema que nos engole quando recebemos o diagnóstico de câncer. Ele se movimenta como o tráfego veloz numa autoestrada. Antes que você se dê conta, é surpreendido pelos faróis, sem visibilidade do que está vindo em sua direção. Sua agenda fica cheia de consultas, receitas são aviadas sem muitas explicações e decisões são tomadas em seu nome – tudo isso enquanto sua mente ainda está tentando aceitar o seu diagnóstico.
Quando a vida está em risco e toda decisão parece potencialmente perigosa, muitos pacientes de câncer querem que os médicos tomem as resoluções por eles. Eu entendo isso. Se você deseja percorrer sua jornada dessa forma, este livro pode não ser do seu interesse. Mas, se você sente que gerenciar o seu tratamento, confiar em seu conhecimento e se responsabilizar pelos próprios cuidados é por si só um tratamento – um remédio psicológico para as células que pode ser tão importante quanto os medicamentos que está tomando e a comida que está ingerindo –, então estou escrevendo para você.
Este livro é para o paciente de câncer que deseja permanecer um ser humano digno e capaz no momento em que os médicos e o diagnóstico são apavorantes e você está tão chocado que mal consegue calçar os sapatos pela manhã. Você é pego no meio do fogo cruzado entre a medicina ortodoxa e a alternativa e, curiosamente, o sistema médico trata você como uma doença, não como um ser humano. Ele também se destina ao paciente de câncer que tem um palpite de que existe algo a ser aprendido, conquistado ou mesmo transformado – se ele ao menos soubesse como lidar com essa doença de maneira diferente da que a maior parte da sociedade lida. Ele é para o paciente de câncer, mas talvez para qualquer paciente de qualquer doença que esteja procurando outro caminho.
Esta obra é parte autobiografia e parte autoajuda. Estou escrevendo para ajudar você a ser o autor de sua história com sabedoria, realismo, criatividade e coragem. Quero compartilhar com você o modo como estou percorrendo meu caminho em meio ao choque, ao terror, à tristeza e ao constrangimento das outras pessoas diante do meu prognóstico – e como estou mantendo uma pesquisa permanente sobre a natureza, as causas, as lições e os benefícios dessa doença devastadora porém enriquecedora.
Comecei a escrever este livro dez meses depois de meu primeiro diagnóstico. Estou vivendo com o câncer, mas todas as minhas metástases desapareceram e o tumor primário em meu pulmão teve uma redução de tamanho de cerca de 65% – um progresso que a equipe médica que cuida de mim descreve como “extraordinário”. Ao mesmo tempo, como qualquer paciente no estágio IV, vivo a recorrente possibilidade de o câncer sofrer uma mutação e marchar como um exército através de meu corpo mais uma vez. Meu câncer é sistêmico e incurável, mas estou vivendo com ele. Na verdade, estou me fortalecendo com ele. Converso com meus médicos, a quem sou imensamente grata, e não falto a nenhuma consulta. A diferença é que agora eles me perguntam quando estou disponível e sugerem em vez de dizerem o que devo fazer. Nós nos tornamos parceiros colaborativos em vez de ficarmos presos à autoritária dinâmica médico-paciente, que ainda prevalece em grande parte da cultura médica.
Minha doença, sem dúvida, ainda pode me matar. Na realidade, se eu considerar as estatísticas, as previsões e as probabilidades de quem tem câncer de pulmão estágio IV, sou um caso perdido. Mas prefiro não fazer isso. Escuto o que eles dizem com zelo e humildade para reduzir as camadas resistentes da negação que me protegem de palavras como “terminal” e “incurável” até que possa escutá-las sem me fragmentar como um cristal. Opto por entender a doença sem me entregar a ela, me resignar sem sucumbir, gritar meu nome do alto das estatísticas antes que minha identidade seja soterrada no frio anonimato dos números. Não tenho ilusões a respeito da gravidade de meu estado, mas agora sou capaz de confiar docilmente no amanhã sem medo de cair, de me afogar ou de me queimar.
Quero viver quase mais do que tudo. Quase. Dedico os dias, as horas e os minutos a prolongar a vida, com a inabalável intenção de criar minha filha até ela se tornar adulta, de envelhecer com meu amado marido e de fazer a diferença que gosto de pensar que vim ao mundo fazer. Mas a maior vitória não é sobreviver ao câncer, por mais heroico que isso possa parecer e por mais firme que seja o meu propósito de fazê-lo. A maior vitória é preservar minha individualidade, qualquer que seja o desfecho – o “Eu” duramente conquistado que nem pertence ao meu corpo nem vai se desintegrar com ele –, e saber que permiti que ela se desenvolvesse apesar do câncer, mesmo enquanto a minha carne definhava. E a única maneira que conheço de fazer isso é efetuando uma escolha digna, conscienciosa e corajosa de cada vez.
No início desta jornada, o médico que me diagnosticou e revisou minha primeira tomografia, além de realizar a broncoscopia (um procedimento que não é para os fracos), disse uma coisa extraordinária antes de me encaminhar para o oncologista:
– Não se torne uma paciente, Sra. Sabbage. Viva a sua vida.
Levei a sério suas palavras. Isso permitiu que eu buscasse mais do que escapar do meu prognóstico ou morrer corajosamente. Quando eu estava naquele choque inicial profundo – me sentindo prestes a desaparecer, numa espécie de noite sem fim –, aquele médico despertou a melhor parte de mim. A parte que sabe que o futuro não está escrito, que tudo acontece com um propósito maior do que podemos enxergar e que, quando o caos se instala, podemos tanto aceitar nosso destino quanto nos rebelar. Acho que venho me rebelando desde então.
Neste livro, vou apresentar uma parte da pesquisa que realizei, os tratamentos que escolhi, a dieta que decidi seguir e os recursos que fizeram uma grande diferença para mim. Espero que esses dados ajudem você a encontrar os atalhos em meio à massa de informações existentes sobre o câncer, muitas delas conflitantes. Também recomendo livros e filmes específicos que considero essenciais para qualquer pessoa diagnosticada com essa doença.
Mas não sou médica nem especialista de qualquer tipo. Sou uma pessoa que tem câncer e uma facilitadora da transformação humana. Não tenho qualificação para ajudar você a superar o seu problema. Mas sou qualificada para ajudá-lo a superar o seu condicionamento, o que acredito também ser essencial para o processo de cura. Posso mostrar-lhe como ficar bem, mesmo quando estiver se sentindo mal, e como resolver as questões emocionais que podem ter contribuído para a sua doença.
Não preciso acrescentar este livro à coleção dos já lançados sobre dieta, bem-estar e protocolos de tratamento. Entretanto, posso auxiliar você a mapear toda essa informação, com a mente clara, a intuição afiada e uma forte noção de individualidade. Quer se livre ou não do câncer, você ainda pode se libertar do câncer. Ou seja, libertar-se do medo que o alimenta; libertar-se do prazo que ele impõe; libertar-se do poder que ele exerce sobre as suas escolhas; libertar-se das crenças nefastas que contaminam seu processo de cura; libertar-se da percepção da inevitabilidade do seu destino.
Embora eu não possa oferecer milagres ou curas mágicas, espero que este livro permita que você encontre uma cura que de outra forma talvez não encontrasse. A partir da minha experiência, e dos vinte anos em que trabalhei com pessoas para despertar suas mentes e libertar seus espíritos, criei um processo prático e transformador que auxiliará você a assumir total responsabilidade por seu tratamento e a obter real conhecimento sobre sua doença. Meu objetivo é ajudar os pacientes de câncer a transformar sua relação com a doença de forma a serem transformados pelo fato de terem câncer, não importando o desfecho – viver ou morrer.
Portanto, espero que esta leitura o inspire a sentir a vibração da vulnerabilidade, a energia do propósito, a liberdade da autenticidade e a maravilha de forjar o seu próprio caminho pela floresta densa e escura que às vezes parece não oferecer trégua ou escape. Torço, principalmente, para que você perceba que o câncer tem algo a ensinar; basta você saber como ouvir o que ele está tentando dizer.
Foi isso que os domadores de cavalos aprenderam a fazer com os animais – entendendo sua linguagem e se comunicando com eles de uma maneira completamente diferente. Eles testaram os limitados níveis de entendimento e atingiram um novo patamar, trabalhando em harmonia com o cavalo para conquistar sua cooperação em vez de tentar “quebrá-lo” por meio da dominação e do controle. O processo de adestramento faz com que o cavalo se “alie” aos humanos e se disponha a aceitar sua liderança, escolhendo ser guiado por eles.
De maneira parecida, tentamos destruir o câncer há décadas, até mesmo séculos, com pouca eficácia quando comparamos ao progresso que a medicina obteve no tocante a outras doenças. Temos uma relação hostil e de confronto com essa doença, que ainda não tem uma cura confiável. Temos consciência dos fatores que contribuem para o câncer, mas poucas causas irrefutáveis para ele, e o número de pessoas diagnosticadas aumenta exponencialmente. Portanto, talvez seja o momento de abrirmos um canal de comunicação com a doença num nível completamente diferente, criando uma nova perspectiva no relacionamento com ela por meio de um trabalho harmonioso que conquiste sua cooperação. Talvez seja o momento de sair do campo de batalha e entrar na sala de aula. Talvez seja o momento de perguntar não apenas como podemos curar o câncer de nossos corpos, mas também o que o câncer está nos dizendo sobre como curar nossas vidas.
Esta é a minha pesquisa. Sou uma paciente de câncer fazendo tudo que posso para aprender com a doença e mudar a minha vida por causa dela. Estou gravemente doente, apesar de estranhamente bem. Sinto-me mais agradecida ao câncer do que temerosa. Vivo num espaço rarefeito entre a vontade de viver e a necessária aceitação da morte. Vejo o modo como o pássaro canta ao amanhecer e se doa até o último suspiro na proeza de ser ele mesmo. Quero viver dessa maneira. Convido você a viver exatamente assim também, até que nossas histórias terminem.

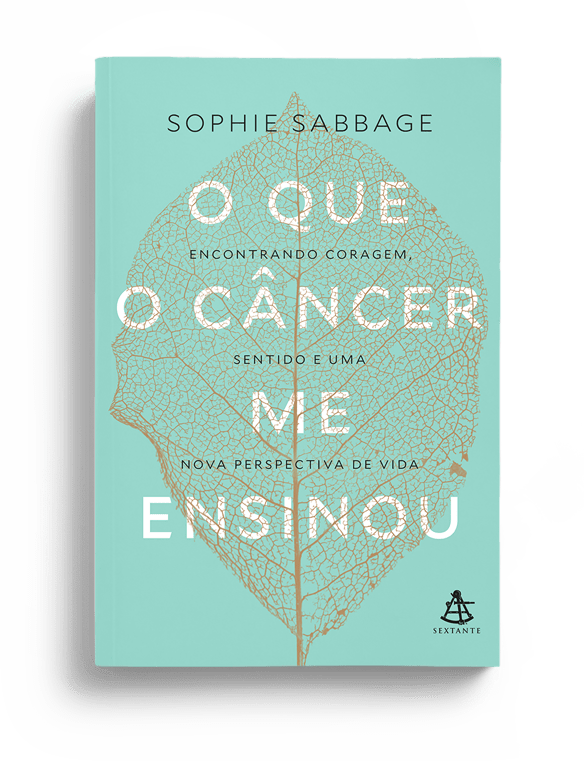
 LEIA MAIS
LEIA MAIS