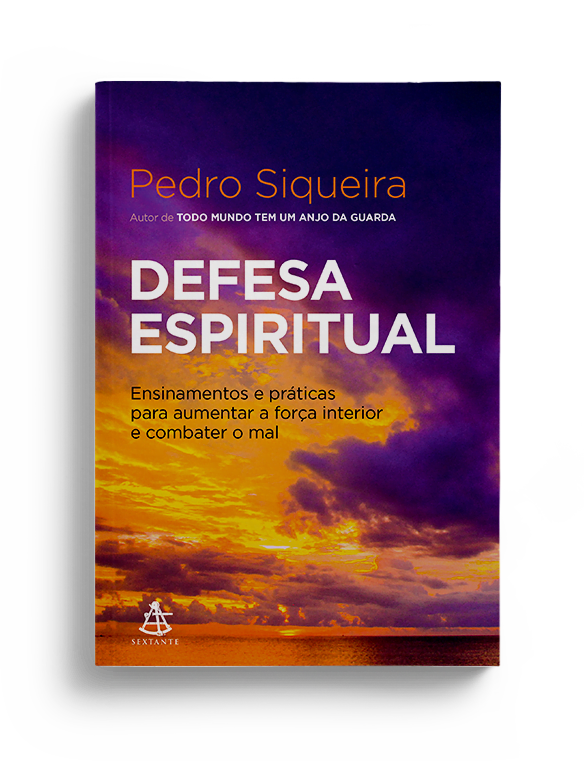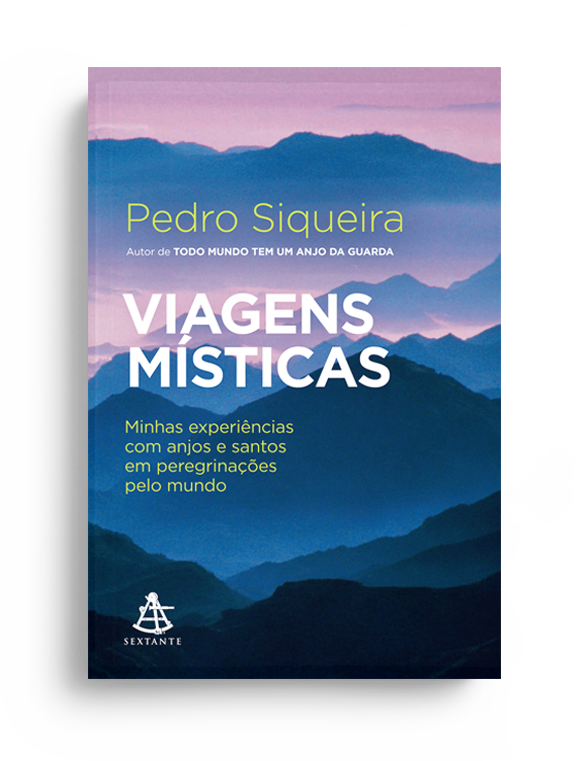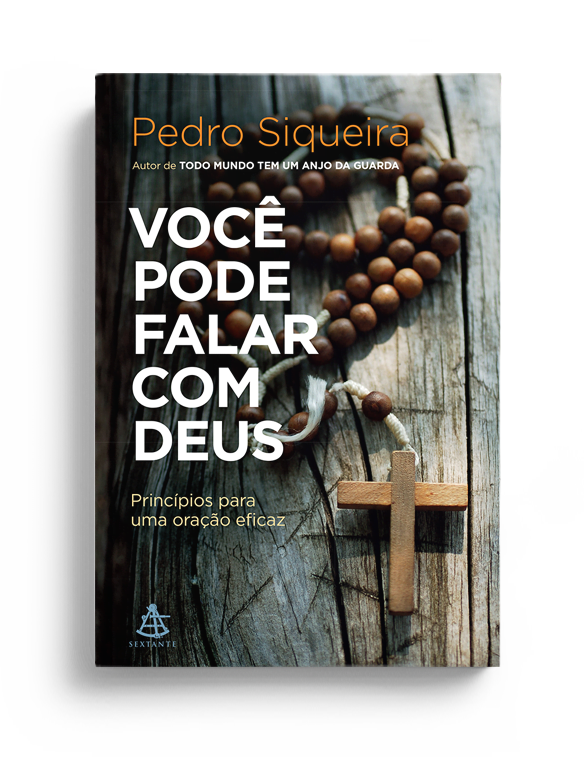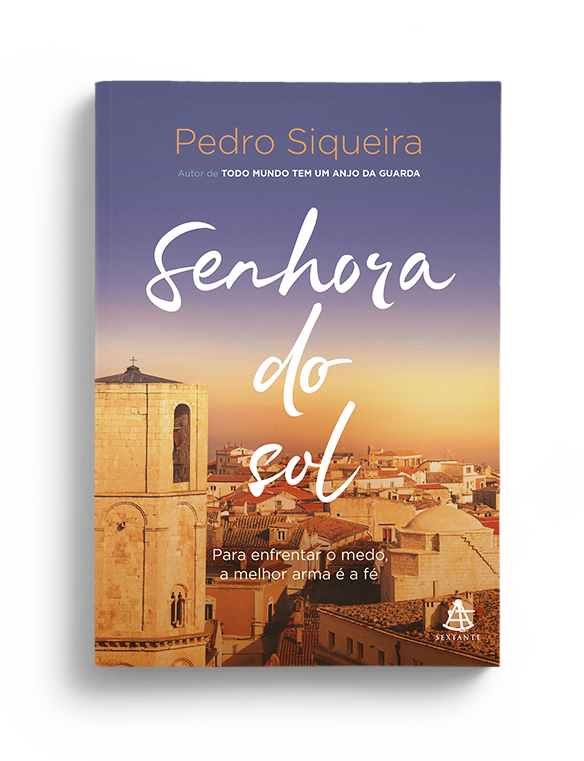Capítulo I
Viagem
O trem corria como uma lebre em direção ao pé da cordilheira. Devido ao isolamento acústico, reinava o silêncio dentro do vagão, fazendo crer que ele flutuava sobre os trilhos. O mundo passava suavemente pela janela, como em um telão de filme, apesar da alta velocidade. Os viajantes pareciam estar acostumados e não davam muita atenção à paisagem, preferindo notebooks ou livros. Os que tinham companhia conversavam animadamente.
No vagão de número 15, estava meu grupo, que transformava o veículo francês num pedaço do Brasil. Basicamente, eram pessoas muito mais ligadas à vida espiritual do que eu. Católicos praticantes, de longa caminhada, daqueles que participam das orações e missas de corpo e alma. Sentia-me um tanto deslocada no meio deles.
– Logo no dia que a conheci, aqui na viagem, reparei que seus olhos são muito tristes. Você é muito bonita e simpática, mas os olhos… Não sei – disse a senhora que se sentava à mesma mesa que eu, na poltrona de dois lugares diante de mim.
Gaúcha, ela tinha uns 70 anos e falava com forte sotaque. Era uma pessoa carinhosa.
– Não sei do que você está falando, Teresa. Nunca me disseram nada do tipo. Estou me sentindo muito bem aqui com o grupo. Vocês todos são agradáveis.
Eu me remexi no assento, me empertigando. Ficara desconfortável com o comentário.
– Estava lendo uma coisa aqui na minha Bíblia, sabe? De repente, me veio a ideia de ler em voz alta para você! Talvez seja um recado de Deus ao seu coração.
Eu já havia percebido esse hábito em algumas mulheres do grupo. Elas diziam que era algo corriqueiro na Renovação Carismática Católica. Olhei um tanto descrente para Teresa, mas não queria ofendê-la, então sinalizei para que ela prosseguisse, com um sorriso forçado.
– É o capítulo 9 do Livro da Sabedoria.
Ela abriu um sorriso luminoso, pigarreou um pouco, arrumou os óculos no nariz e continuou:
– “Quem pode conhecer a vontade de Deus? Quem pode imaginar o que o Senhor deseja? Os pensamentos dos mortais são tímidos e nossos raciocínios são falíveis, porque um corpo corruptível torna pesada a alma, e a tenda de terra oprime a mente pensativa. Com muito custo, podemos conhecer o que está na terra e com dificuldade encontramos o que está ao alcance da mão. Mas quem poderá investigar o que está no céu?”
Teresa se reclinou, pousando a Bíblia no colo, e deixou as mãos penderem ao lado das pernas.
Aquela passagem era um retrato do que me incomodava havia algum tempo. Imediatamente, minha respiração se acelerou. Eu estivera a olhar a paisagem, meditando sobre as desgraças que haviam se abatido sobre mim. Questionava por que a mente humana não conseguia alcançar os propósitos do destino. Por mais que eu tivesse planejado tudo, as coisas não tinham saído como desejava.
Como eu gostaria de ter explicações sobre todos os fatos dolorosos que haviam me sucedido nos anos, meses e dias anteriores! Ao investigar tudo, meu cérebro não conseguia nenhuma resposta satisfatória. Vai ver era isso: a carne atrapalhava a visão espiritual… Continuei encarando Teresa em silêncio.
– Então, a passagem bíblica se enquadra no que você está vivendo agora, Gabriela?
Seu rosto estava sério. Ela me olhava fixamente por cima dos óculos pretos. Aguardava uma resposta e não desistiria tão fácil. Sabia que tinha dado um tiro no escuro e acertado a caça. Nem que apenas de raspão!
– Nas últimas quatro horas que passamos aqui no Eurostar, fiquei me perguntando: por que somos tão limitados em analisar nossas próprias vidas? – Embora isso não respondesse à pergunta dela, foi a coisa mais honesta que eu pude dizer.
– Esse lugar que vamos visitar daqui a poucas horas é mágico! Pode trazer um alívio definitivo para sua alma. O importante é que você não se prenda demais aos pensamentos. Deixe um pouco de lado o cérebro e preste atenção ao espírito.
Que conselho mais estranho… Meu rosto deve ter sofrido alguma contração inesperada, pois ela imediatamente começou a me explicar com mais calma:
– Se sua mente analisou tantas vezes a situação em que se encontra e não obteve sucesso, é hora de parar. Ela precisa de repouso. Agora a tarefa é do espírito. Algo que todos nós possuímos, mas usamos muito pouco! Ele pode entrar em contato com o divino que mora no seu coração e que habita também o lugar que vamos visitar. Dessa comunhão talvez venha a resposta. Tudo pode ser mudado na sua vida. Acredite.
Eu estava mordendo o lábio e, nesse momento, o torci, incrédula. Teresa não desistiu:
– Não sei qual é o seu problema, ou melhor, a sua dor, mas sei que tem solução. Tudo nesta vida tem solução, mesmo que dependa de um milagre. O milagre será a solução!
Sinceramente, queria acreditar em tudo o que ela me dizia. De qualquer forma, que outra saída eu tinha? Vinha lutando com todas as armas que a ciência e a tecnologia podiam me oferecer. Até ali, só a espiritualidade não havia sido explorada por mim. Se o espírito era real ou não, naquele estágio da caminhada pouco importava. Situações dramáticas exigiam saídas drásticas.
Levantei-me e disse que ia ao vagão-restaurante. Ela sorriu e acenou com a cabeça. Eu queria ficar um pouco sozinha. Não que fosse de fugir dos meus problemas ou de debates mais profundos, já que sempre os enfrentara de peito aberto. Precisava, entretanto, de espaço para respirar e assimilar o novo.
Andando pelos vagões, veio forte em mim a lembrança dos dias anteriores em Paris, especialmente nossa ida à Rue du Bac. Fazia frio, mas o sol brilhava na belíssima cidade. O ônibus que levava nosso grupo parou na esquina mais próxima. Descemos e, em fila indiana, seguimos para o convento onde houvera aparições da Virgem Santa.
A entrada era tão discreta que passei direto, procurando por uma igreja ou algo semelhante. Miguel, nosso guia turístico, veio me buscar rindo e me indicou um portão comum pequeno. Logo que entrei, vi que os painéis nas paredes contavam um pouco da história do lugar. Detive-me uns minutos lá.
Ao fundo, estava a entrada para o convento. Lá, à direita, num grande salão, situava-se a capela. Lugar de bom gosto, sóbrio, com um belo altar. Emanava paz e harmonia, destoando da rua por onde tínhamos acabado de passar. Naquele local, a Virgem se encontrara com uma religiosa, Catarina Labouré.
Ao lado direito do altar, notei uma cadeira antiga mas bem conservada. Estava cercada por um cordão de isolamento. Ali, Nossa Senhora se sentara para conversar com a noviça santa. Observando a relíquia, podia ouvir ao longe meus pensamentos: seria aquela história verdadeira? Era possível que um espírito se materializasse a ponto de se acomodar em uma cadeira e acolher em seu colo a cabeça de uma freira?
Percebi a comoção que a cadeira havia produzido em nosso grupo de peregrinos. As pessoas partiram feito loucas em sua direção. Fiquei estática, olhando. Não sabia bem o que fazer. A distância, via doze pessoas ajoelhadas em frente ao objeto. Lágrimas eram derramadas, mãos se erguiam em oração, lábios se moviam em súplicas inaudíveis aos ouvidos humanos.
– Se eu fosse você, pelo sim, pelo não, fazia igualzinho a eles… – sugeriu nosso guia, simpático e bonachão como sempre.
Virei-me para responder, mas ele já caminhava na direção oposta.
Na hora em que me ajoelhei, vieram à mente todas as dificuldades pelas quais estava passando. Um pensamento constante, podia-se dizer, era a preocupação número um. Nos últimos meses, vinha me angustiando o medo de morrer. Não sabia o que iria encontrar pela frente…
Rezei imediatamente uma Ave-Maria. Pela primeira vez, o final da oração chamou minha atenção: “Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte”. Contive as lágrimas. Melhor confiar na história da cadeira e da aparição do que imaginar que não tinha nenhuma chance. Pedi que Maria estivesse comigo na hora da minha morte e que, de preferência, ela só ocorresse dali a muitos anos.
A hora da minha morte! Quando seria? Estaria muito próxima? Será que existia alguma chance de escapar? Como tinha pouco mais de 40 anos, nunca me preocupara com esse tema. Preferia continuar daquela maneira, mas não era possível.
Ao me levantar, virando-me em direção aos bancos laterais da igreja, deparei-me com o rosto alegre de Ana, outra senhora simpática da excursão. Como que por impulso, ou melhor, atraída pelo seu imenso sorriso, fiz algo que não me era comum: perguntei-lhe se era hábito dos católicos rezar pela própria morte.
Ela me respondeu positivamente. Disse que pedir por uma boa morte é uma prática tradicional da Igreja. Todos nós deveríamos estar preparados para um momento tão importante. Fiquei aliviada. Depois de alguns passos, todavia, me preocupei de novo: teria sido algum tipo de intuição minha? Senti medo. Estaria Nossa Senhora me avisando que a minha morte de fato se aproximava?
Naquela tarde, saí do Santuário da Medalha Milagrosa com emoções conflitantes: preocupação e esperança. Qual delas iria vencer o combate? Era o início de um caminho obscuro para mim, inexplorado. Embora minha vida nunca tenha sido um mar de rosas, não me sentira levada ao âmbito espiritual mesmo em meio às dificuldades.
Alcancei o vagão-restaurante e me sentei a uma mesa colada na janela, observando a bela paisagem do interior da França. Minha vida passava como um filme na minha mente. Do lado de fora, a chuva começou a cair, bem fina. Provavelmente o tempo esfriava, bem diferente da minha terra natal na mesma época do ano. A água tomava o vidro da janela do trem.
– Cristina, estou preocupado… Não estou vendo a menina! – exclamou meu pai, tenso, em minhas lembranças.
– Calma, Carlos! Com certeza ela está brincando aqui por perto na areia – minha mãe tentava apaziguá-lo.
– Levante-se e venha me ajudar a procurá-la – disse ele, estendendo a mão à mulher que estava sentada.
Segurando-a firme, ergueu-a de uma vez só.
– Meu Deus! Acho que a correnteza a está levando… Aquela figurinha que vai em direção ao alto-mar não é a Gabriela? – agora perguntava minha mãe.
Recordo-me de como ousava nadar desde pequenina. Fazia muita força para me manter à tona e puxar a água para avançar metros. Tudo parecia tão difícil… Minha cabeça era obrigada a pensar em cada movimento isoladamente e depois juntá-los para que a combinação funcionasse. Nada era automático!
Sem auxílio de boias. Coisa mais absurda! Aquilo era artificial demais para mim. Os peixes não as usavam. As outras crianças, um pouco maiores, aparentavam ser totalmente livres porque não tinham aquelas amarras nos braços! Eu queria ser igual… Livre e ágil!
Sentia bem de leve o sabor da tal liberdade no Posto Seis, em Copacabana, dentro do mar. Pena que não tinha forças para lutar contra a correnteza e experimentá-la a fundo. Ir além do que os meus pequenos olhos negros podiam calcular. As águas insistiam em me vencer. Acabavam por me arrastar. Um dia, jurava para mim mesma, iria nadar até as ilhas que conseguia visualizar da areia. Ver a cidade lá de longe. Seria um grande triunfo.
Guardo a imagem do meu pai, esbaforido, com os olhos arregalados, avermelhados pela ação do sal e do vento contrário, dando braçadas ferozes, perfurando reduzidas ondas do mar em minha direção. Enquanto eu lutava para boiar, queria avisá-lo que não havia pressa. Eu estava bem, apesar de não ter fôlego para falar com ele e me manter na superfície ao mesmo tempo. Meu único problema era não conseguir voltar para a areia sozinha.
Suas mãos vigorosas me pegaram por baixo das axilas, apertando com tanta força que até doía, cobrindo meu corpo até as costelas. Não era doida de reclamar. Então, ele respirava fundo e, cuspindo um pouco de água, batia as pernas de modo frenético, como os jogadores de polo aquático, e me mandava enlaçar seu pescoço. Eu procurava ajudá-lo agitando as pernas rechonchudas.
Ele seguia nadando em estilo peito, comigo nas costas. Pendia um pouco para o lado esquerdo, provavelmente porque sua potência estava na braçada direita e sua cabeça pesava levemente para o lado oposto. Não se tratava de um bom nadador, mas estava dando certo. Eu adorava! Sabia que ficaria de castigo naquele dia, mas o preço era justo para tanta diversão! De maiô azul, na beira, minha mãe aguardava o resgate, de braços cruzados e expressão preocupada.
Na verdade, na maior parte do tempo, ela carregava aquele semblante. Por isso eu não me alterava. Era comum. Com o passar do tempo descobri que havia algo errado. Criança se habitua à mãe da forma como ela é. Às vezes me ocorria que as outras mães eram mais alegres. Depois deixava o pensamento de lado. Aquela era a minha. Bastava.
Na conjunção do mar com a areia, meu pai me colocou no colo e fez questão de sair comigo em seus braços. Eu, toda orgulhosa, olhava para as outras crianças, do alto do pescoço dele. Sentia-me membro da realeza. Ao perceber a missão cumprida, minha mãe nos deu as costas e foi se sentar, aliviada, na cadeira de praia.
– Acabou seu dia de praia, menina! Hoje de tarde você não vai a lugar nenhum. Está de castigo. Ah, não tem sorvete de sobremesa também! – avisou meu pai depois de alguns minutos, ainda tentando recuperar o fôlego, sentado na areia.
Pronto. Eu já esperava a punição. Era sempre a mesma coisa! Mesmo já conhecendo o desfecho de minha proeza aquática, não mudara de ideia. Valera o risco. Chateada com minha atitude, minha mãe me olhava com reprovação.
– Ouviu seu pai? Não tem discussão. Não adianta chorar. Não é a primeira vez que você nos desobedece dessa forma. Assim você vai matar seus pais do coração. Não podemos tirar os olhos nem um segundo de você, senão… lá vem!
Ela pôs a mão esquerda na testa em estilo dramático.
Depois, só deu tempo de eu ser secada e vestida, e logo fomos embora. Andávamos os três em direção ao apartamento. Caminhada de dez minutos. Após o banho, fiquei trancada no escritório de papai. Nada de televisão ou música. Bonecas, nem pensar! Era o castigo de praxe para a travessura da praia.
Sentada no canto, numa grande almofada azul, eu olhava pela janela que dava para a rua. Entediada, andava em círculos pelo pequeno cômodo, sem fazer barulho, para não atrair a ira de meus pais. Acabei parando em frente a uma imagem de madeira de 50 centímetros que ficava ao lado da escrivaninha de meu pai.
Segundo informação do próprio dono, era um anjo vestido de branco, com cabelos esvoaçantes, segurando com a mão direita a hóstia e, com a esquerda, um cálice. Não tinha asas. Talvez por isso eu me interessasse tanto pela figura. Na escola, todas as imagens angélicas tinham asas! Seria aquele anjo do meu pai o único do tipo?
– Pai, por que seu anjo não tem asas? – perguntei certa vez durante o jantar.
– Bom… Quem disse que anjo tem asas, menina?
Como ele não esperava aquela pergunta, resolveu retribuir com outra. Não sabia bem o que dizer.
– A irmã Catarina. A madre gordinha que toma conta da gente.
Eu o olhei fixamente para ver sua reação. Ele apenas uniu as mãos e apoiou o queixo nelas. Entendi que o gesto me encorajava a falar mais.
– Lá no colégio, na entrada, perto da escada que a gente sobe para a sala de aula, tem duas imagens de anjos. Uma de cada lado. Um está de azul; o outro, de branco. Os dois têm asas. Aliás, é por isso que são anjos, não é?
Precisava dar uma resposta que fizesse sentido.
– Ora, Gabriela, ninguém viu um anjo de verdade! – Ele deu uma risadinha. – Acho que as pessoas colocam asas nos anjos para mostrar que são seres diferentes de nós! – retrucou meu pai, convencido de seu argumento.
– Pai, a irmã Catarina disse que alguns santos viam anjos de verdade! Eram com asas ou não? – questionei-o, com olhos inquisidores.
– Não sei nada sobre esses homens, minha filha. Nunca conheci nenhum santo pessoalmente, então como vou saber como é um anjo de verdade? Não sei nem se existem – concluiu, com a voz mais aguda. Ele tentava se desvencilhar daquele assunto desconfortável.
– Carlos! Isso é coisa que se diga para a menina? – interrompeu minha mãe, indignada. – Gabriela, está na hora de nos levantarmos da mesa. Seu pai precisa ler algumas coisas do trabalho para amanhã e você precisa dormir cedo para render bem na escola. Vamos! – ordenou, abanando as mãos e apontando o caminho a ser tomado.
O assunto estava encerrado e eu, insatisfeita.
Dez horas da noite, de volta ao presente, chequei o relógio na mesa de cabeceira. Estava exausta. Finalmente me encontrava sozinha no quarto do hotel, na cidade de Lourdes. Sem forças, coloquei a mala do jeito que deu no canto do quarto, perto da entrada do banheiro. Abri-a o suficiente para pescar lá dentro minha camisola azul. Após me despir, atirando a roupa em cima da calefação, que estava abaixo da janela, me vesti aliviada. Desabei na cama e adormeci.
Acordei com um telefonema da recepcionista. Em um inglês com sotaque carregado, me comunicou que o grupo dos peregrinos brasileiros iria se reunir às oito horas no salão do segundo andar para o café da manhã. Sentei-me na cama com pouco ânimo. Que horas eram?
O relógio me disse: quinze para as sete. Tomei coragem e fui até o chuveiro. O banho parecia revigorar meus músculos maltratados pelo assento do trem e pelos dias de viagem. Por um bom tempo, deixei a água quente escorrer pelos ombros e pelas costas, numa massagem agradável. Quando me sequei e fui me vestir, percebi que o horário havia andado além do previsto. Precisava descer rápido, estava atrasada.
Após o café, subi ao quarto para escovar os dentes e buscar mais um casaco. A temperatura estava mais baixa do que eu esperava. Coloquei as luvas no bolso da calça. Sentia muito frio nas extremidades; provavelmente precisaria de mais proteção. As meias eram de lã, e o sapato preto, fechado. Estava pronta para descer e finalmente seguir ao tão falado santuário.
Ao pisar na calçada, estaquei. Tantas vezes pensara estar seguindo um caminho seguro na minha vida… Tudo conforme o planejado. Algo que poderia chamar de definitivo. Do nada, vinha um golpe para me mostrar o equívoco. Mesmo assim, teimosa, insistia no mesmo caminho. Caíra inúmeras vezes. Assim, fui seguindo. Quantos tombos mais seriam necessários até que viessem os passos firmes?
A brisa fria chegou amistosa, me acariciando. Minha visão foi se focando. Passei os dedos pelas pálpebras fechadas, comprimindo-as. A paisagem enfim apareceu bela, apesar do dia acinzentado. Meus movimentos foram retornando e eu me virei em direção ao rio Gave, que corria em ritmo constante à minha frente.
A música que ele produzia era prazerosa. O volume de suas águas, contudo, não impressionava. Já havia visto rios bem maiores em extensão, largura e profundidade. Sua cor era escura, talvez em função das chuvas, que remexeram seu fundo. Todas as fotos dele, penduradas na entrada do hotel, o retratavam verde-esmeralda… Meus olhos o atravessaram e se perderam na grama e nas árvores que, de mesmo colorido, ao fundo, subiam pelas montanhas.
Aos pés dos Pirineus, as montanhas não se pareciam com as da minha cidade. No Rio de Janeiro, elas se encerravam praticamente junto ao mar, de forma dramática, abrupta… Ali, no sul da França, o ritmo tranquilo de cidade do interior e a formação rochosa harmônica em nada lembravam a loucura do meu dia a dia.
Respirei fundo e apertei o cachecol em volta do pescoço. Como o frio não diminuía, decidi dar passos maiores, mas, logo à frente, novamente parei. Indecisa, olhei para a calçada e a rua de paralelepípedos perpendicular. Mirei um pouco mais acima, com um suspiro. Será que valia a pena aquilo? Então, uma voz falou dentro do meu peito. Trazia um convite amistoso das águas que, ao se deslocarem à minha frente, impeliam-me para a caminhada, rumo ao desconhecido.
Podia parecer estúpido: um rio não tem voz. Será? Como, então, se comunicava comigo, dando-me forças para um mergulho no improvável? Uma ligação magnética, muito antiga, entre mim e a água, compartilhada por outros, eu acreditava, embora nunca os tivesse encontrado.
Minha mãe não era uma pessoa que praticava muito a religião. Havia sido batizada, feito primeira comunhão e se casado na Igreja Católica, mas não participava das missas de domingo. Só ia às de sétimo dia, Natal e Páscoa. Porém, detestava quando alguém falava mal das coisas sagradas ou do cristianismo.
Meu pai era cético. Não tinha nenhum interesse em religiões ou em debates metafísicos. Eu não sabia se ele acreditava em Deus. Acompanhava minha mãe nas missas em que ela ia, por educação e companheirismo. O anjo de madeira, que tanto chamara minha atenção quando menina, era de sua falecida mãe, por isso ele o guardava com todo o respeito e carinho. Não combinava em nada com o escritório, não era um enfeite. Devoção, nem pensar!
Minha avó paterna era muito religiosa. Participava da missa todos os dias de manhã. Bem cedo, colocava o véu negro sobre a cabeça e, empunhando a bengala de madeira, caminhava dois quarteirões até a igreja. Chegando lá, procurava um genuflexório e, com muita dificuldade, se punha a rezar. Dizia que sua primeira saudação do dia era para o Anjo de Portugal, conhecido pelas aparições em Fátima. A imagem de madeira do escritório do meu pai era sua representação.
Nosso apartamento continha pouquíssimos itens religiosos. Recordo-me, além do Anjo de Portugal, de uma cruz de madeira acima da cabeceira da cama dos meus pais e de uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que ficava num móvel da sala, elegante no seu vestido branco, com a bela faixa azul na cintura e o rosário pendendo dos antebraços.
A mulher ali retratada parecia pertencer a uma família real. Eu, como toda menina, adorava isso! Perguntava à minha mãe de que reino aquela senhora era. Ela respondia que era da Jerusalém Celeste. Como eu queria ir até aquele lugar! Se as mulheres daquela corte eram tão elegantes e belas, era lá que eu queria viver. Mamãe não dava a menor bola. Apenas sorria de canto de boca.
Um dia, na escola, enquanto irmã Catarina me conduzia escada acima, resolvi assuntá-la a respeito do reino; afinal, eu precisava descobrir se aquela estátua de mamãe era de alguma princesa de lá. A irmã chorou de rir.
– Irmã Clara, venha cá! Você não imagina o que a Gabizinha acabou de me perguntar.
Vendo a satisfação da irmã, a outra freira se aproximou às pressas.
– Ela quer saber onde fica o reino chamado Jerusalém Celeste e quem é a princesa de lá.
As duas riram. Eu, quieta, fiquei observando, um pouco constrangida. Será que eu tinha falado alguma besteira? Minha mãe iria ficar muito chateada comigo ao descobrir… Pior: quando eu chegasse em casa, ela me colocaria de castigo.
– Querida, não é princesa, não. O reino existe de verdade, mas tem uma rainha. Chama-se Maria.
Meu Deus! Será que era aquela mulher que eu via lá em casa? Aquela senhora era mais do que uma princesa? E, ainda por cima, tinha o mesmo nome da minha coleguinha de classe… Tudo estava muito confuso na minha cabeça.
– Ah, Jerusalém Celeste é o reino para onde Deus vai levar os justos ao final de suas vidas. Todo mundo quer ir para lá, Gabizinha. Dizem que é o lugar mais belo que existe. Já imaginou? Morar lá, para sempre, com a rainha! – exclamou a irmã Clara, extasiada.
As duas me afagavam a cabeça.
– Posso ir também? Será que a rainha vai me querer lá? Tem menina da minha idade morando com ela?
Tantas dúvidas diante da nova descoberta… Mal podia imaginar que as dúvidas espirituais infantis retornariam tantos anos mais tarde, na mente da mulher madura.

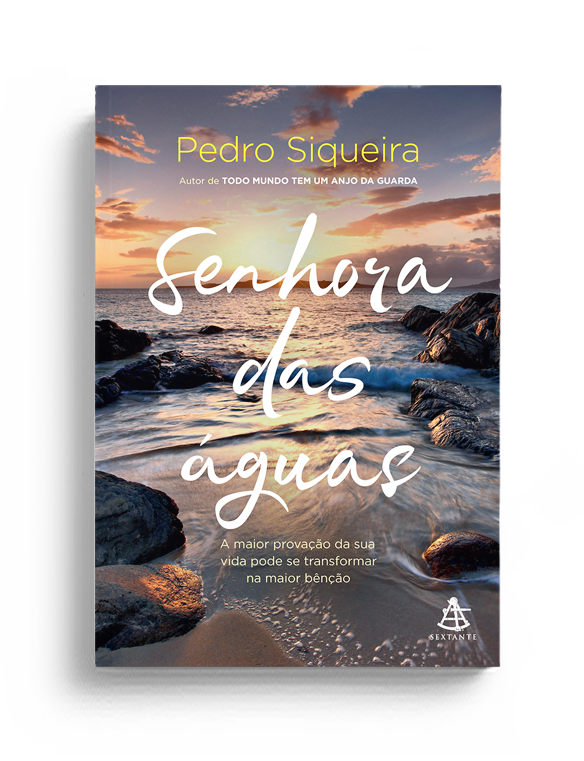
 LEIA MAIS
LEIA MAIS