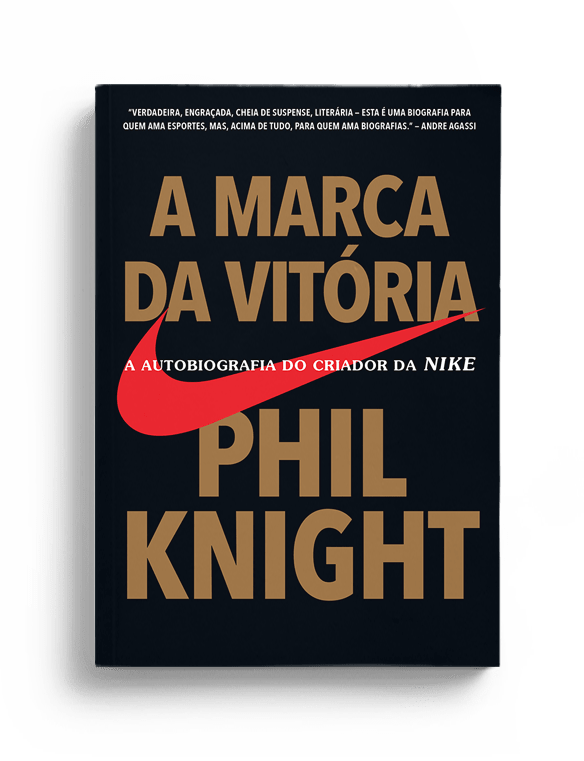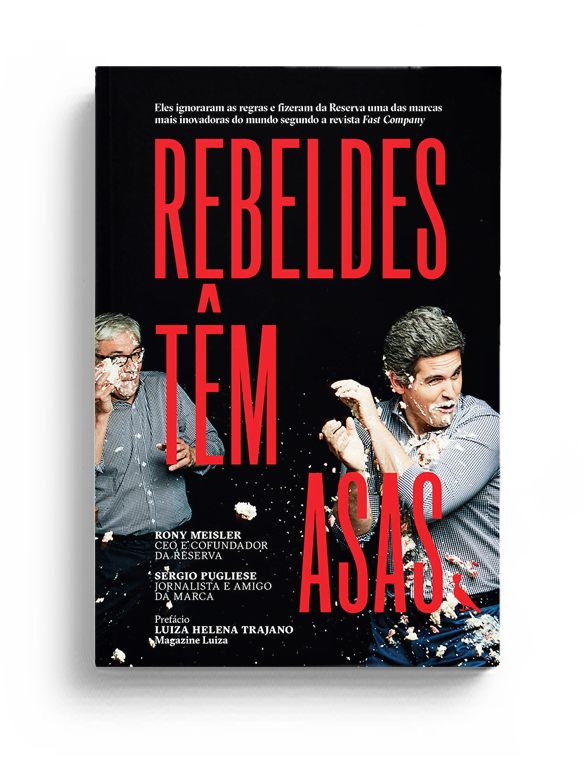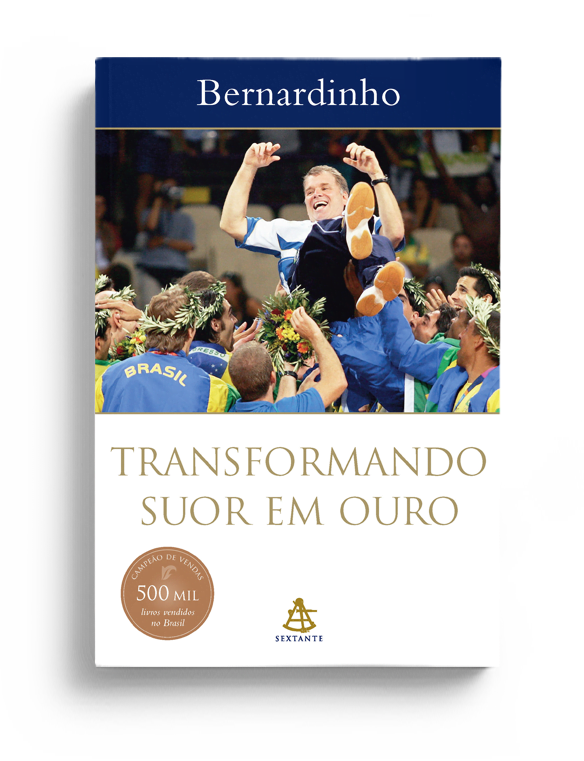Há muitas possibilidades na mente do principiante, mas poucas na do perito.
– Shunryu Suzuki, Mente zen, mente de principiante
Alvorada
Acordei antes dos outros, antes dos pássaros, antes do sol. Tomei uma xícara de café, engoli uma torrada, vesti um short e um blusão de moletom e amarrei os cadarços dos meus tênis verdes de corrida. Em seguida, saí em silêncio pela porta dos fundos.
Alonguei as pernas, a região lombar e gemi enquanto dava os primeiros passos obstinados pela rua fria, em meio à névoa. Por que é sempre tão difícil começar?
Não havia carros nem pessoas, nenhum sinal de vida. Eu estava completamente só, tinha o mundo inteiro para mim – embora, estranhamente, as árvores parecessem notar a minha presença. É claro, eu estava no Oregon. As árvores sempre pareciam estar cientes. As árvores sempre ofereciam proteção.
Que lugar magnífico para se nascer, eu pensava, olhando ao redor. Calmo, verde, tranquilo – eu sentia orgulho de chamar o Oregon de lar, de chamar minha pequena Portland de cidade natal. Mas também sentia uma pontada de tristeza. Embora belo, o Oregon dava às pessoas a sensação de ser um lugar onde nada importante realmente acontecia – ou teria chances de acontecer. Se havia algo no estado que pudesse conferir a seus habitantes alguma fama era uma trilha muito antiga, que precisou ser aberta pelos colonos para que chegassem até aqui. Desde então, as coisas tinham sido bem monótonas.
O melhor professor que tive, um dos melhores homens que conheci, falava com frequência dessa trilha. É nosso direito de nascença, bradava ele. Nosso caráter, nosso destino – nosso DNA. “Os covardes nunca começaram”, ele me dizia, “os fracos morreram pelo caminho – e nós estamos aqui.”
Nós. Segundo meu professor, alguma força rara do espírito dos pioneiros foi descoberta ao longo dessa trilha, um enorme senso de possibilidade misturado a uma reduzida capacidade de pessimismo – e nosso dever, como filhos do Oregon, era manter essa força viva.
Eu meneava a cabeça, concordando e demonstrando todo o respeito que ele merecia. Eu amava aquele sujeito. No entanto, quando me afastava, costumava pensar: Ora, é só uma estrada de terra.
Naquela manhã de nevoeiro, naquela manhã memorável em 1962, eu havia acabado de desbravar minha própria trilha – de volta ao lar, depois de sete longos anos de ausência. Era estranho estar de volta, estranho ser de novo açoitado pelas chuvas que caíam todos os dias. Mais estranho ainda era voltar a morar com meus pais e minhas irmãs gêmeas, dormir na minha cama da infância. Eu ficava deitado, tarde da noite, olhando para os livros da faculdade, os troféus e as blue ribbons, fitas azuis que recebi pelas conquistas no ensino médio, enquanto pensava: Isso sou eu? Ainda?
Acelerei o passo pela rua. Minha respiração formava baforadas redondas e geladas que criavam um torvelinho no meio da neblina. Saboreei aquele primeiro despertar físico, aquele momento brilhante que acontece antes de a mente ficar totalmente clara, quando os membros e as articulações começam a se soltar e o corpo material começa a derreter. De sólido para líquido.
Mais depressa, disse a mim mesmo. Mais depressa.
Teoricamente, refleti, sou um homem adulto. Formado em uma boa universidade – a Universidade do Oregon. Fiz mestrado em uma das melhores escolas de negócios – Stanford. Sobrevivi a um ano inteiro no serviço militar dos Estados Unidos – em Fort Lewis e Fort Eustis. Meu currículo afirmava que eu era um soldado resoluto, um homem completo, de 24 anos… Então, por que eu me sentia como se ainda fosse um menino?
Pior ainda, o mesmo menino tímido, pálido e magricela que sempre fora.
Talvez por eu ainda não ter experimentado nada da vida. Ainda não vivera suas muitas tentações e emoções. Não havia fumado um cigarro, não havia experimentado drogas. Não violara nenhuma regra, muito menos uma lei. Estávamos nos anos 1960, a era da rebeldia, e eu era a única pessoa nos Estados Unidos que ainda não tinha se rebelado. Não me lembrava de um único momento no qual tivesse jogado tudo para o alto ou feito algo inesperado.
Eu nunca havia estado com uma mulher.
Se costumava remoer tudo o que eu não era, havia um motivo simples. Aquelas eram as coisas que eu conhecia melhor. Era difícil dizer o que ou quem exatamente eu era ou poderia vir a ser. Assim como todos os meus amigos, eu queria ser bem-sucedido. Ao contrário deles, não sabia o que isso significava. Dinheiro? Talvez. Esposa? Filhos? Uma casa? Claro que sim, se tivesse sorte. Esses eram os objetivos que eu aprendera a almejar e que parte de mim de fato desejava, instintivamente. Mas, lá no fundo, eu buscava algo diferente, algo mais. Tinha uma sensação dolorosa de que o nosso tempo é breve, muito mais efêmero do que jamais saberemos, tão breve quanto uma corrida pela manhã, e queria que o meu tempo significasse alguma coisa. E que tivesse um propósito. E que fosse criativo. E importante. E, acima de tudo… diferente.
Eu queria deixar uma marca no mundo.
Queria vencer.
Não, não era bem isso. Eu apenas não queria perder.
E então, aconteceu. Enquanto meu jovem coração começava a bater, enquanto meus pulmões rosados se expandiam como as asas de um pássaro, enquanto as árvores se transformavam em borrões esverdeados, vi tudo diante de mim, exatamente como eu queria que a minha vida fosse. Esporte.
Sim, pensei, é isso. Essa é a palavra. Eu sempre suspeitara de que o segredo da felicidade, a essência da beleza ou da verdade – ou tudo o que precisamos saber sobre a beleza e a verdade – estava em algum lugar durante aquele exato momento em que a bola está no ar, em que ambos os pugilistas sentem que o gongo vai tocar, em que os corredores se aproximam da linha de chegada e a multidão se levanta. Existe um tipo de luminosidade viva nesse pulsante meio segundo que antecede a decisão sobre a vitória ou a derrota. Eu queria que isso, o que quer que significasse, fosse a minha vida, o meu dia a dia.
Em outros momentos, eu havia fantasiado sobre me tornar um grande escritor, um grande jornalista, um grande estadista. Meu maior sonho, entretanto, sempre foi o de ser um grande atleta. Infelizmente, o destino me havia feito bom, mas não ótimo. Aos 24 anos, eu estava, enfim, aceitando esse fato. Havia competido em provas de corrida no Oregon e me destacara, conseguira me classificar em três dos quatro anos em que tinha competido. E foi só isso. Agora, enquanto corria, uma volta após outra, enquanto o sol nascente incendiava as agulhas mais baixas dos pinheiros, perguntei a mim mesmo: e se houvesse um jeito de sentir o que os atletas sentem, mesmo não sendo atleta? Praticar esportes o tempo todo em vez de trabalhar? Ou ter tanto prazer no trabalho a ponto de ele se tornar, essencialmente, um esporte?
O mundo estava inundado de guerra, dor e amargura, a luta diária era exaustiva e, com frequência, injusta. Talvez a única resposta, pensei, fosse encontrar algum sonho prodigioso, improvável, que parecesse valer a pena, que parecesse divertido, que parecesse uma boa opção, e correr atrás dele com a dedicação e a determinação de um atleta. Gostando ou não, a vida é um jogo. Quem nega essa verdade, quem se recusa a entrar no jogo, fica esperando nas linhas laterais – e eu não queria isso. Mais do que qualquer outra coisa, isso era algo que eu não queria para a minha vida.
O que me levou, como sempre, à minha Ideia Maluca. Talvez, pensei, apenas talvez, eu precisasse dar mais uma olhada nessa minha Ideia Maluca. Talvez essa Ideia Maluca pudesse… dar certo.
Talvez.
Não, não, pensei, correndo mais depressa, mais depressa, correndo como se estivesse perseguindo alguém e ao mesmo tempo sendo perseguido. Isso vai dar certo. Juro por Deus, farei com que dê certo. Chega de talvez.
De repente, eu estava sorrindo. Quase gargalhando. Encharcado de suor, movendo-me tão graciosamente e sem esforço como jamais o fizera, vi minha Ideia Maluca brilhando à minha frente, e ela não parecia mais tão maluca assim. Nem parecia mais uma ideia. Parecia um lugar. Parecia uma pessoa, ou alguma força de vida que já existia muito antes de eu mesmo existir, separada, mas também fazendo parte de mim. Esperando por mim, mas também se escondendo. Isso pode soar um tanto excêntrico, um pouco maluco. Mas foi assim que me senti naquele dia.
Ou talvez não. Talvez a sensação de descoberta do momento tenha sido ampliada pela memória, ou vários momentos de descobertas tenham sido condensados em apenas um. Ou talvez, se houve esse momento, ele não tenha sido nada mais do que o efeito da adrenalina no meu corpo. Não tenho certeza. Não sei dizer. Muitas lembranças daqueles dias, e dos meses e anos seguintes, lentamente desapareceram, como aquelas baforadas geladas e redondas da minha respiração. Rostos, números, decisões que antes pareciam urgentes e irrevogáveis, tudo se foi.
O que permaneceu, porém, foi essa certeza reconfortante, essa verdade que é como uma âncora e que jamais irá embora. Aos 24 anos, eu tive uma Ideia Maluca e, de alguma forma, apesar de estar atordoado pelas angústias existenciais, pelo medo do futuro e pelas dúvidas sobre mim mesmo, como todos os jovens aos 20 e poucos anos, decidi que o mundo era feito de ideias malucas. A História é uma longa procissão de ideias malucas. As coisas que eu mais amava – livros, esportes, democracia, livre-iniciativa – começaram como ideias malucas.
Além disso, poucas ideias são tão malucas quanto a minha atividade favorita: correr. É difícil. É doloroso. É arriscado. As recompensas são poucas e nunca são garantidas. Quando você corre em uma pista oval ou em uma estrada vazia não tem um destino verdadeiro. Pelo menos não um que justifique todo o esforço. O ato em si se torna o destino. Não é apenas por não haver uma linha de chegada; é porque é você quem define a linha de chegada. Os prazeres ou ganhos que podem ser obtidos por meio do ato de correr, sejam quais forem, precisam ser encontrados dentro de si. Tudo depende de como você encara a corrida, de como a negocia consigo mesmo.
Todo corredor sabe disso. Você corre, quilômetro após quilômetro, e nunca sabe exatamente por quê. Diz a si mesmo que está correndo em direção a um objetivo, que persegue algum ímpeto, mas, na verdade, você corre porque a alternativa, que é parar, o faz tremer de medo.
E assim, naquela manhã em 1962, eu disse a mim mesmo: Deixe que todos chamem a sua ideia de maluca… Apenas continue. Não pare. Nem pense em parar enquanto não chegar lá e não pense muito sobre onde fica esse “lá”. O que quer que aconteça, não pare.
Esse foi o conselho precioso, cauteloso e urgente que consegui dar a mim mesmo, do nada, e que, de alguma forma, fui capaz de seguir. Meio século depois, acredito que é o melhor conselho – talvez o único – que qualquer um de nós deva dar.