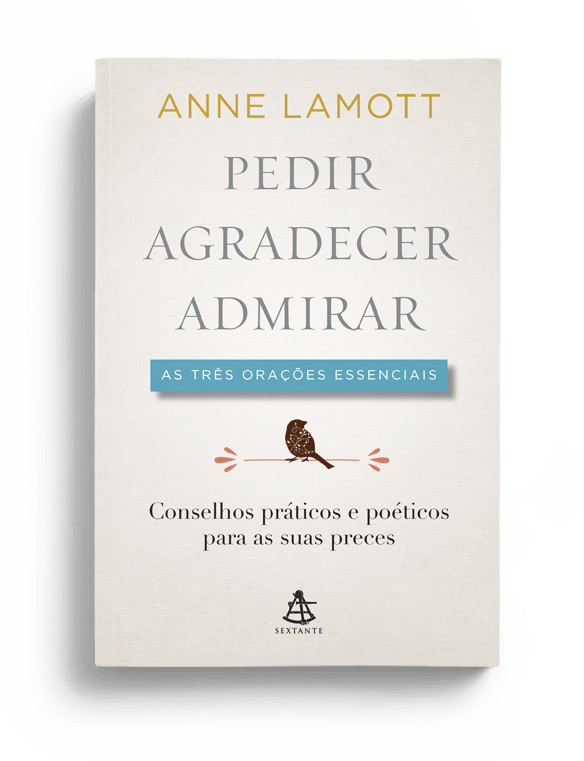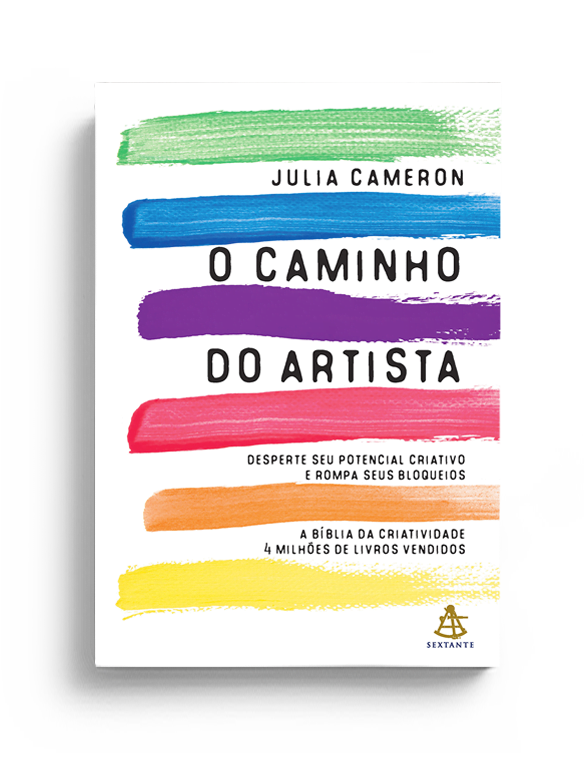INTRODUÇÃO
Meu pai e minha mãe liam sempre que tinham oportunidade e, toda quinta-feira à noite, iam comigo e com meus irmãos à biblioteca para que pegássemos livros para a semana seguinte. Quase todas as noites, depois do jantar, meu pai se esticava no sofá para ler, minha mãe ficava sentada na poltrona com seu livro, enquanto nós, os três filhos, nos recolhíamos em nossos cantos particulares de leitura. Geralmente, nossa casa ficava muito silenciosa à noite – a menos que alguns dos amigos de meu pai estivessem nos visitando. Ele era escritor, assim como a maioria dos homens com quem andava. Eles não eram as pessoas mais silenciosas do mundo, mas, de modo geral, eram muito cordiais. À tarde, depois do trabalho, eles costumavam ir ao bar sem nome em Sausalito, mas às vezes iam tomar uns drinques lá em casa e acabavam ficando para o jantar. De vez em quando, um deles desmaiava sobre a mesa. Embora os adorasse, eu era uma criança ansiosa e achava aquilo desconcertante.
Todas as manhãs, independentemente da hora em que havia ido dormir, meu pai se levantava às cinco e meia, ia para o escritório e escrevia durante cerca de duas horas. Em seguida, preparava o café da manhã para todos, lia o jornal com minha mãe e voltava a trabalhar até a hora do almoço. Levei muitos anos para perceber que ele havia escolhido aquele trabalho e que não estava desempregado nem tinha problemas mentais. Eu queria que ele tivesse um emprego convencional, que usasse gravata, que saísse com os outros pais, ficasse sentado numa pequena sala e fumasse. Mas a ideia de passar dias inteiros num escritório trabalhando para outra pessoa não combinava com a alma dele. Acho que isso o teria matado. Meu pai morreu cedo, aos 50 e poucos anos, mas pelo menos viveu como queria.
Portanto, cresci com esse homem que ficava sentado à mesa de seu escritório o dia inteiro e escrevia livros e artigos sobre os lugares e as pessoas que tinha visto e conhecido. Ele lia muita poesia. Às vezes viajava. Uma das dádivas de ser escritor é que a profissão lhe dá uma desculpa para fazer certas coisas, ir a alguns lugares e explorá-los. Outra vantagem é que escrever nos motiva a olhar a vida mais de perto.
A escrita ensinou meu pai a prestar atenção. Ele, por sua vez, ensinou outras pessoas a fazerem o mesmo e depois anotarem suas observações e seus pensamentos. Seus alunos eram os prisioneiros de San Quentin que participavam de um programa de redação criativa. Mas ele também nos deu importantes lições, sobretudo por meio do exemplo. Ele nos ensinou a escrever um pouquinho a cada dia e a ler todos os grandes livros e peças que chegassem a nossas mãos; a ler poesia, a sermos ousados e originais e a nos permitirmos cometer erros. Porém, embora tenha ajudado a mim e aos prisioneiros a descobrir que queríamos compartilhar uma infinidade de sentimentos, observações, lembranças, sonhos e opiniões, todos nós ficamos um pouco ressentidos quando encontramos uma única condição: em algum momento tínhamos que sentar e escrever.
Ainda que eu sempre tenha achado essa tarefa difícil, acredito que foi mais fácil para mim do que para os prisioneiros, porque eu ainda era criança. Comecei a escrever aos 7 ou 8 anos. Eu era muito tímida e tinha uma aparência estranha, gostava mais de ler do que de fazer qualquer outra coisa, pesava cerca de 20 quilos e era tão tensa que caminhava com os ombros levantados até as orelhas. Andava assim por causa dos meninos mais velhos que zombavam de mim. Era como se estivessem me metralhando. Acho que eu tentava tapar os ouvidos com os ombros. Uma vez, assisti à filmagem de uma festa de aniversário a que eu tinha ido quando estava na primeira série, com todas aquelas crianças engraçadinhas brincando juntas. De repente, eu atravessava a tela sorrateiramente. Era muito provável que fosse eu quem me tornaria uma assassina em série ou teria dezenas de gatos quando crescesse. Em vez disso, me tornei engraçada. Depois comecei a escrever, embora nem sempre escreva coisas engraçadas.
O primeiro poema que escrevi e que atraiu certa atenção era sobre John Glenn. Começava assim: “O coronel John Glenn foi para o céu / em sua nave espacial, Amizade Sete.” Havia muitos versos. Era como as antigas baladas inglesas que minha mãe nos ensinava enquanto tocava piano, com 30 ou 40 versos cada.
A professora leu meu poema para a turma de segunda série. Foi um momento importante. As outras crianças me olharam como se eu tivesse aprendido a dirigir. O fato é que a professora inscrevera o poema em uma competição de escolas estaduais da Califórnia e ele havia sido premiado. Depois foi reproduzido em uma coletânea mimeografada. Logo percebi a emoção de ter um trabalho publicado. É uma espécie de verificação primal: você é publicado, logo existe. Quem sabe de onde vem essa necessidade de aparecer fora de si mesmo em vez de se sentir aprisionado dentro de sua mente confusa? Ver seu trabalho publicado é uma coisa incrível: você pode obter muita atenção sem precisar realmente aparecer em lugar nenhum. Embora outras pessoas que têm algo a dizer ou que desejam ser marcantes – como músicos, atletas ou políticos – precisem aparecer em público, os escritores, que costumam ser tímidos, podem ficar em casa e ainda assim ser famosos.
Às vezes eu ficava no chão do escritório de meu pai, escrevendo meus poemas, enquanto ele se sentava à escrivaninha redigindo seus livros. A cada dois anos, uma nova obra dele era publicada. Em nossa casa, os livros eram reverenciados e os grandes escritores eram mais admirados do que quaisquer outras pessoas. As obras especiais ocupavam lugar de destaque: na mesa de centro, em cima do rádio e no banheiro. Cresci lendo elogios em capas empoeiradas e resenhas dos livros de meu pai nos jornais. Tudo isso fez com que eu começasse a querer ser escritora – ser artista, um espírito livre e também uma das raras pessoas da classe trabalhadora que controlava a própria vida.
Apesar de tudo, eu me preocupava com a possibilidade de faltar dinheiro em nossa casa. Preocupava-me com a ideia de que meu pai se tornasse um vagabundo, como alguns de seus amigos escritores. Lembro que, quando eu tinha 10 anos, meu pai publicou um artigo numa revista dizendo que havia passado uma tarde numa varanda de frente para a praia Stinson, com um grupo de escritores, bebendo muito vinho tinto e fumando maconha. Naquela época ninguém fumava maconha, a não ser músicos de jazz, que também eram viciados em heroína. Pais de família de classe média não deviam fumar maconha; eles deviam velejar ou jogar tênis. Os pais de minhas amigas, que eram professores, médicos, bombeiros e advogados, não fumavam maconha. A maioria nem bebia e certamente não tinha colegas que os visitavam e desmaiavam na mesa de jantar. Ao ler o artigo de meu pai, eu só conseguia imaginar que o mundo estava desmoronando, que, da próxima vez que eu entrasse em seu escritório para mostrar meu boletim, o encontraria encolhido embaixo da escrivaninha, olhando para mim como um lobo acuado. Eu sentia que aquilo seria um problema; tinha certeza de que seríamos excluídos de nossa comunidade.
Tudo o que sempre quis foi me sentir parte de alguma coisa. Quando estava na oitava série, eu ainda era muito magra. Tinha 12 anos e durante a maior parte da vida haviam zombado de minha aparência. É difícil ser diferente em meu país – os Estados Unidos da Publicidade, como Paul Krassner costuma dizer – e se você é magro demais, alto demais, gordo, negro, esquisito, baixo, simples, pobre ou míope, é crucificado. Eu fui.
Mas eu era engraçada. Então as crianças populares me deixavam andar com elas, ir às festas e vê-las namorar. Isso, como você pode imaginar, não ajudava muito minha autoestima. Eu me achava um fracasso total. Porém, um dia peguei caderno e caneta e fui à praia Bolinas com meu pai (que, até onde eu sabia, ainda não estava usando drogas). Com o equivalente para um escritor de tela e pincel, redigi uma descrição do que vi: “Caminhei até o lábio d’água e deixei que a língua espumosa daquele líquido em movimento lambesse meus dedos. Um siri cavou um buraco a alguns centímetros do meu pé e depois desapareceu na areia úmida…” Vou poupá-lo do resto. A descrição continua por um bom tempo. Meu pai me convenceu a mostrar o texto à professora e ele acabou sendo incluído em um livro didático de verdade. Aquilo impressionou profundamente meus professores, meus pais e algumas crianças, até mesmo as populares, que me convidaram para mais festas para que eu pudesse observá-las namorar com frequência ainda maior.
Um dia, depois da aula, uma das garotas populares foi passar a noite em minha casa. Minha mãe e meu pai estavam comemorando a chegada do novo romance dele, recém-saído da gráfica. Estávamos todos muito felizes e orgulhosos e aquela garota achava que eu tinha o pai mais legal do mundo: um escritor. (O pai dela vendia carros.) Saímos para jantar e brindamos uns aos outros. As coisas na nossa família não podiam estar melhores e havia uma amiga ali para testemunhar tudo.
Naquela mesma noite, antes de irmos dormir, peguei o novo livro e comecei a ler a primeira página para minha amiga. Estávamos deitadas lado a lado, em sacos de dormir, no chão do meu quarto. Por acaso, a primeira página era sobre um homem e uma mulher na cama, fazendo sexo. O homem estava brincando com o mamilo dela. Comecei a dar risadinhas cada vez mais histéricas. “Ah, isto é incrível”, pensei, sorrindo para minha amiga. Cobri a boca com a mão e, com um gesto, fingi que estava prestes a arremessar aquele livro tolo por cima do ombro. “Isto é maravilhoso”, pensei, jogando a cabeça para trás para rir alegremente, “meu pai escreve pornografia”.
Morri de vergonha. Nunca mencionei o livro para meu pai, embora, nos anos seguintes, eu o tenha lido tarde da noite, procurando outros trechos sensuais – e havia vários. Aquilo era muito confuso. Eu me sentia amedrontada e triste.
Então aconteceu uma coisa estranha: meu pai escreveu para uma revista um artigo chamado “A Lousy Place to Raise Kids” (“Um péssimo lugar para criar seus filhos”), sobre o condado de Marin e, especificamente, a comunidade onde morávamos, que é um lugar tão bonito quanto se possa imaginar. No entanto, no que dizia respeito à incidência de alcoolismo, nossa península só ficava atrás dos indígenas americanos das favelas de Oakland. E o abuso de drogas entre os adolescentes era, como meu pai escreveu, de causar arrepios na alma, além da crescente taxa de divórcios, colapsos nervosos e comportamento sexual inadequado. Meu pai escreveu desdenhosamente sobre os homens da comunidade, seus valores e seu frenesi materialista; e também sobre suas esposas, “essas mulheres admiráveis, casadas com médicos, arquitetos e advogados, usando trajes de tênis ou vestidos de algodão, bronzeadas e conservadas, percorrendo os corredores dos supermercados com um brilho de loucura nos olhos”. Ninguém em nossa cidade saiu bem no retrato pintado por meu pai. “Esta é a grande tragédia da Califórnia”, escreveu ele no último parágrafo, “pois uma vida orientada para o ócio é, no final das contas, uma vida orientada para a morte – o maior ócio de todos.”
Só havia um problema: eu era uma ávida jogadora de tênis. As senhoras tenistas eram minhas amigas. Eu treinava todas as tardes no mesmo clube que elas; ficava sentada com elas nos fins de semana e esperava que os homens (que tinham prioridade) parassem de jogar para que nós pudéssemos usar as quadras. E meu pai fez com que elas parecessem zumbis decadentes.
Achei que estávamos arruinados. Porém meu irmão mais velho voltou da escola naquela semana com uma cópia do artigo de meu pai, que seus professores de estudos sociais e de inglês haviam distribuído em sala de aula. John era um herói para seus colegas de turma. A reação na comunidade foi imensa: nos meses seguintes, fui esnobada por vários homens e mulheres no clube de tênis, mas, ao mesmo tempo, pessoas paravam meu pai na rua enquanto caminhávamos juntos e apertavam sua mão como se ele lhes tivesse prestado um favor pessoal. Mais tarde naquele verão, entendi como aquelas pessoas se sentiam quando li O apanhador no campo de centeio pela primeira vez e descobri como era a sensação de ter alguém falando por você, a emoção de fechar um livro sentindo triunfo e alívio, um animal social isolado que finalmente estabeleceu contato.
NO ENSINO MÉDIO, comecei a escrever muito: diários, artigos antibélicos inflamados, paródias de escritores que eu admirava. E passei a notar uma coisa importante: as outras crianças sempre queriam que eu lhes contasse histórias sobre o que havia ocorrido, mesmo – ou sobretudo – quando faziam parte do acontecimento. Festas organizadas por nós, discussões na sala de aula ou no pátio, cenas envolvendo seus pais – eu podia fazer aquelas histórias acontecerem. Podia torná-las animadas e engraçadas, podia até exagerar alguma parte, para que o evento se tornasse quase mítico e as pessoas envolvidas parecessem maiores, criando uma sensação de importância.
Tenho certeza de que, quando meu pai estava na escola e na faculdade, era nele que seus amigos confiavam para contar suas histórias. E também tenho certeza de que era nele que confiavam mais tarde, na cidade onde estava criando seus filhos. Ele podia pegar grandes acontecimentos ou pequenos episódios da vida cotidiana e criar nuances ou exagerar algumas coisas para capturar sua forma e substância, captar a sensação da vida na sociedade em que ele e os amigos moravam, trabalhavam e procriavam. As pessoas esperavam que ele pusesse em palavras o que acontecia.
Acho que ele foi uma criança que pensava de modo diferente das outras. Talvez tivesse conversas sérias com adultos e, quando jovem – assim como eu –, gostasse de ficar muito tempo sozinho. Acho que essas pessoas muitas vezes se tornam escritores ou criminosos. Durante toda a minha infância acreditei que eu pensava em coisas diferentes daquelas em que as outras crianças pensavam. Não eram necessariamente mais profundas, mas dentro de mim acontecia uma luta para encontrar um jeito criativo, espiritual ou estético de ver o mundo e organizá-lo na minha cabeça. Eu lia mais do que as outras crianças, deleitava-me com livros. Eles eram meu refúgio. Ficava sentada pelos cantos lendo, em transe, perdida nos lugares e nas épocas a que os livros me transportavam. E houve um momento durante o segundo ano do ensino médio em que comecei a acreditar que podia fazer o que os outros escritores estavam fazendo. Passei a acreditar que, com um lápis na mão, talvez fosse capaz de fazer algo mágico acontecer.
Então escrevi algumas histórias realmente terríveis.
NA FACULDADE, O mundo se abriu e os livros e poetas que eram ensinados nas aulas de inglês e de filosofia despertaram em mim, pela primeira vez, a sensação de que havia esperança de que eu encontrasse meu lugar em uma comunidade. Senti que estava descobrindo minha outra metade nos meus recentes e estranhos amigos e em certos livros novos. Algumas pessoas queriam ficar ricas ou famosas, mas meus amigos e eu queríamos cair na real. Queríamos mergulhar fundo. (Acho que também queríamos transar.) Eu devorava livros como uma pessoa que toma vitaminas, com medo de, caso não fizesse aquilo, permanecer uma narcisista inconsistente, sem possibilidade de me tornar uma intelectual, de algum dia ser levada a sério. Tornei-me socialista por cinco semanas. Mas as viagens de ônibus para as reuniões me esgotaram. Eu era atraída por pessoas diferentes, de outras culturas, atores, poetas, ativistas – e, de algum modo, eles me ajudaram a me transformar em algumas das coisas que eu tanto almejava ser: política, intelectual, artista.
Meus amigos suscitaram meu interesse por Kierkegaard, Beckett e Doris Lessing. Fiquei extasiada com todo aquele entusiasmo e aquela inspiração. Lembro-me de quando li C. S. Lewis pela primeira vez, Surpreendido pela alegria, e de como, ao olhar para dentro de si mesmo, ele encontrou “um zoológico de desejos, um manicômio de ambições, um viveiro de medos, um harém de ódios cultivados”. Senti-me alegre e absolvida. Eu achava que as pessoas gentis e inteligentes do mundo, aquelas que são admiradas, não sentiam aquilo, que eram diferentes de mim e, digamos, de Toulouse-Lautrec.
Comecei a escrever artigos imaturos para o jornal da faculdade. Por sorte, eu só estava no segundo ano. Era incompetente em todos os aspectos do ensino superior, com uma única exceção: tirava as melhores notas em inglês, escrevia os melhores trabalhos. Mas era ambiciosa; queria ser mais amplamente reconhecida. Então, aos 19 anos, abandonei os estudos para me tornar uma escritora famosa.
Voltei para São Francisco e me tornei uma famosa secretária interina. Eu era conhecida por minha incompetência e por chorar à toa. Chorava por causa do tédio e porque não acreditava que aquilo estivesse acontecendo comigo. Então consegui um emprego como datilógrafa no departamento de controle de qualidade de uma grande empresa de engenharia. Passei a trabalhar sob um tsunami de memorandos e formulários em três vias. Era angustiante. E tão chato que me deixava com olheiras enormes e profundas. Por fim, descobri que toda aquela papelada podia ser jogada fora sem que realmente houvesse qualquer consequência e isso me proporcionou tempo livre para escrever contos.
“Escreva um pouco todo dia”, dizia meu pai. “Faça de conta que são escalas de piano. Imagine que assinou um contrato com você mesma. Encare isso como se fosse uma dívida de honra. Comprometa-se a terminar as coisas.”
Então, além de escrever às escondidas no escritório, eu também escrevia todas as noites, por uma hora ou mais, muitas vezes em cafeterias, com um bloco e uma caneta, bebendo grandes quantidades de vinho, porque era isso que os escritores, como meu pai e seus amigos, faziam. Funcionava para eles, embora houvesse surgido uma nova e perturbadora tendência: eles haviam começado a se suicidar. Aquilo foi muito doloroso para meu pai, é claro. Mas nós dois continuamos a escrever.
Acabei indo morar em Bolinas, para onde meu irmão mais novo e meu pai haviam se mudado no ano anterior, quando ele e minha mãe se separaram. Para me sustentar, comecei a dar aulas de tênis e a fazer faxina. Todo dia, durante cerca de dois anos, eu escrevia pequenos trechos e histórias, mas me concentrava principalmente na minha grande obra, um conto chamado “Arnold”. O protagonista, um psiquiatra careca e barbudo, está conversando com uma jovem escritora um pouco deprimida e com o irmão mais novo dela, também ligeiramente deprimido.
Arnold lhes dá todo tipo de conselho psicológico útil, mas, no fim, desiste, se agacha e começa a andar de cócoras, grasnando como um pato, para diverti-los. Este é um tema que sempre adorei: dois casos perdidos encontram alguém, como um palhaço ou um forasteiro, que de início faz uma breve preleção, mas, na verdade, está dizendo: “Também estou perdido! Mas vejam, sei caçar coelhos!”
Era um conto horrível.
Também escrevi muitas outras coisas. Eu fazia anotações sobre as pessoas que estavam à minha volta, na minha cidade, na minha família, nas minhas lembranças. Fazia anotações sobre meu próprio estado de espírito, minha grandiosidade, minha autoestima baixa. Escrevia as coisas engraçadas que ouvia por aí. Sempre prestava atenção e anotava tudo.
Porém, mais do que em qualquer outra coisa, eu trabalhava em “Arnold”. Deixava passar alguns meses e o enviava de novo à agente de meu pai em Nova York, Elizabeth McKee. “Bem”, respondia ela, “agora está realmente tomando forma”.
FIZ ISSO DURANTE vários anos. Queria muito que o conto fosse publicado. Certa vez ouvi um pastor dizer que a esperança é uma paciência revolucionária. Permita-me acrescentar que o mesmo se aplica a ser escritor. A esperança começa no escuro, a esperança teimosa que diz que, se você simplesmente se expuser e tentar fazer a coisa certa, a luz vai aparecer. Você espera, observa e trabalha: nunca desiste.
Eu não desisti, em grande parte por causa da fé que meu pai tinha em mim. Infelizmente, aos 23 anos, de repente me vi com uma história para contar. Meu pai recebeu o diagnóstico de câncer no cérebro. Ele, meus irmãos e eu ficamos arrasados, mas, de alguma forma, conseguimos manter o equilíbrio, mesmo que a duras penas. Meu pai me orientou a prestar atenção e fazer anotações. Ele me disse: “Conte sua versão, que vou contar a minha.”
Comecei a escrever sobre o que estávamos enfrentando e, em seguida, dei a esses escritos a forma de contos interligados. Incluí todos os pequenos trechos e descrições nos quais estivera trabalhando no ano anterior e criei cinco capítulos que, de alguma maneira, se sustentavam. Meu pai, que estava doente demais para escrever sua versão, adorou meu trabalho e me fez enviá-lo a Elizabeth, nossa agente. Então esperei. Envelheci e murchei em um mês. Mas acho que Elizabeth deve ter lido aquilo num estado de quase euforia, felicíssima por não ser “Arnold”. Ela não é nem um pouco religiosa, mas sempre a vejo segurando aquelas histórias contra o peito, os olhos cerrados, se balançando levemente e murmurando: “Obrigada, Senhor.”
Ela fez o manuscrito circular em Nova York e a editora Viking nos apresentou uma oferta. Foi assim que começou o processo. Quando o livro foi lançado, eu tinha 26 anos e meu pai já estava morto havia um. Meu Deus! Eu tinha publicado um livro! Era tudo com que eu sonhara. Havia alcançado o nirvana, certo? Bem…
Antes de vender meu primeiro livro, eu acreditava que a publicação seria instantânea e automaticamente gratificante, uma experiência afirmadora e romântica, um comercial de TV no qual alguém corre e salta em câmera lenta por um gramado cheio de flores até cair nos braços do sucesso e da autoestima.
Não foi o que aconteceu comigo.
Os meses que precedem o lançamento de um livro são, para a maioria dos escritores, uma das piores coisas que a vida tem a oferecer. A espera e as expectativas, tanto as boas quanto as ruins, acabam com você. E tem também a questão das resenhas prévias que saem cerca de dois meses antes da publicação. As duas primeiras críticas de minha obra sobre meu pai diziam que se tratava de uma total perda de tempo, uma baboseira chata, sentimental e repleta de autopiedade. (Não necessariamente com essas palavras.)
Como você pode imaginar, fiquei um pouco nervosa nas semanas seguintes. Eu ia para o bar todas as noites, tomava muitos drinques e contava para vários estranhos que meu pai morrera, que eu tinha escrito um livro sobre isso e que as primeiras resenhas haviam sido muito negativas. Depois começava a chorar e precisava de mais alguns drinques. Finalmente o livro foi lançado. Recebi algumas críticas muito positivas em veículos importantes e outras críticas ruins. Houve algumas noites de autógrafos, umas poucas entrevistas e várias pessoas de prestígio disseram que haviam adorado o livro. No geral, parecia que eu não ia me aposentar antes do tempo. Secretamente, acreditei que as trombetas soariam, que grandes críticos declarariam que desde Moby Dick nenhum romance americano captava tão bem a complexidade estonteante da vida. E também foi isso que pensei quando meu segundo livro foi lançado – e o terceiro, o quarto, o quinto. Todas as vezes eu estava errada.
Porém ainda encorajo qualquer pessoa que se sinta instigada a escrever a ir em frente. Só tento avisar àquelas que esperam ter suas obras editadas que a publicação não é nada do que se diz. Mas escrever é. A escrita tem muito a oferecer, muito a ensinar e traz muitas surpresas. Aquela coisa que você teve que se forçar a fazer – o ato de escrever em si – é a melhor parte. O ato de escrever se revela sua própria recompensa.
Consegui trabalhar quase todos os dias da minha vida adulta, sem nenhum grande sucesso financeiro. Mas eu faria tudo de novo sem pensar duas vezes, repetiria até os erros, percalços, esgotamentos nervosos e tudo o mais. Às vezes eu não sabia dizer exatamente por quê, em especial quando tudo parecia inútil e patético. Em outros dias, porém, vejo minha escrita como uma pessoa – a pessoa que, depois de todos esses anos, ainda faz sentido para mim. É algo que me faz lembrar de “The Wild Rose” (“A rosa selvagem”), um poema que Wendell Berry escreveu para a esposa:
Às vezes escondida de mim
por hábitos cotidianos e confiança,
então, inconsciente, vivo com você
assim como com as batidas de meu coração,
De repente, você cintila à minha vista,
uma rosa selvagem desabrochando à beira
da moita, graça e luz
onde ontem só havia sombra,
e mais uma vez sou abençoado, escolhendo
novamente o que antes escolhi.
Desde criança, eu achava que havia algo nobre e misterioso em escrever, nas pessoas que faziam isso bem, que eram capazes de criar um mundo como se fossem pequenos deuses ou bruxos. Durante toda a vida achei que havia algo mágico em quem conseguia entrar na mente dos outros e se pôr no lugar deles, em quem era capaz de tirar pessoas como eu de dentro de si. E quer saber de uma coisa? Minha opinião não mudou.
AGORA DOU AULAS. Simplesmente aconteceu. Alguém me ofereceu a oportunidade de fazer uma oficina de redação há cerca de 10 anos e, desde então, tenho lecionado.
Muita gente diz que não é possível ensinar alguém a escrever. Mas eu não concordo. Se as pessoas se inscrevem em minhas aulas e querem aprender a escrever, ou a escrever melhor, posso dizer a elas tudo o que me ajudou ao longo do caminho e como procedo diariamente. Posso ensinar pequenas coisas que talvez não estejam em nenhum grande livro sobre redação. Por exemplo, não tenho certeza se alguém já mencionou que dezembro normalmente é um mês ruim para escrever. É um mês de segundas-feiras. As segundas-feiras não são bons dias para a escrita. Tivemos toda aquela liberdade durante o fim de semana, toda aquela autenticidade e todos aqueles sonhos fabulosos, aí chega a segunda-feira e está na hora de sentar em frente à escrivaninha. Por isso, sempre recomendo a meus alunos que nunca comecem um grande projeto às segundas-feiras de dezembro. Por que se preparar para o fracasso?
Os entrevistadores perguntam a autores famosos por que eles escrevem e, se não me engano, foi o poeta John Ashberry que respondeu: “Porque eu quero.” Flannery O’Connor disse: “Porque sou bom nisso.” Quando me fazem essa pergunta durante uma entrevista, cito os dois. Depois acrescento que, fora escrever, não sei fazer mais nada. Sempre menciono uma cena do filme Carruagens de fogo, na qual, pelo que me lembro, o atleta escocês Eric Liddell, que é o herói, está caminhando com sua irmã missionária em uma linda colina na Escócia. Ela tenta convencê-lo a interromper os treinos para as Olimpíadas e voltar a trabalhar na missão da Igreja deles, na China. Ele responde que quer ir à China porque acha que aquela é a vontade de Deus, mas que antes vai treinar com toda a dedicação para as Olimpíadas porque Deus também o fez muito veloz.
Deus concedeu a alguns de nós o dom de amar a leitura tanto quanto amamos a natureza. Meus alunos nas oficinas de redação têm esse dom; alguns são realmente muito bons com as palavras, outros não escrevem tão bem, mas, de qualquer forma, adoram escrever e é o que querem fazer. Então digo: “Para mim, isso é o suficiente. Venham.”
Conto a eles como me sentirei na manhã seguinte, quando me sentar à escrivaninha para trabalhar, com poucas ideias e muitas folhas em branco, uma presunção terrível, baixa autoestima e os dedos apoiados no teclado. Digo que eles vão querer ser muito bons logo de cara e pode ser que isso não aconteça, mas que talvez se tornem bons um dia, se tiverem fé e continuarem a praticar. Talvez passem do desejo de ter escrito algo ao desejo de simplesmente escrever, de estar trabalhando em alguma coisa, porque a escrita traz muita alegria, muitos desafios. Trata-se ao mesmo tempo de trabalho e diversão. Quando estiverem trabalhando em suas histórias, a cabeça será um turbilhão de ideias e invenções. Eles verão o mundo com outros olhos. Em coquetéis ou na fila dos correios, estarão colhendo pequenos momentos e expressões ouvidas ao acaso – e sairão de fininho para anotar tudo aquilo. Haverá dias de incrível tédio diante da escrivaninha, de desesperança furiosa, dias em que vão querer desistir. E haverá dias em que se sentirão fluentes como se fossem levados por uma onda.
Também digo a meus alunos que as probabilidades de eles serem publicados e de isso lhes trazer segurança financeira, paz de espírito e até mesmo alegria não são muito grandes. Talvez ruína, histeria, acne, tiques incômodos e problemas financeiros sérios. Mas provavelmente nenhuma paz de espírito. No entanto, digo que acho que eles devem escrever mesmo assim. Porém, tento fazer com que entendam que o fato de escrever – e até mesmo de se tornar um bom escritor e ter histórias, livros e artigos publicados – não abrirá as portas que a maioria deles espera. Aquilo não os deixará bem. Não lhes dará a sensação de finalmente terem chegado a algum lugar. Meus amigos escritores, que são muitos, não andam por aí sorrindo, com sentimentos silenciosos de contentamento. A maioria anda com um olhar assustado, afrontado e surpreso.
Meus alunos não querem ouvir isso. Também não querem ouvir que apenas quando meu quarto livro foi lançado deixei de ser uma artista morta de fome. Não querem ouvir que a maioria deles nunca terá nada publicado e que um número ainda menor vai conseguir se sustentar com a escrita. Porém, sua fantasia em relação à publicação não tem muito a ver com a realidade. Então, o que conto para eles é a realidade.
Mas também digo que, às vezes, quando estão trabalhando, meus amigos escritores se sentem melhor e mais vivos do que em qualquer outro momento. E, outras vezes, quando estão escrevendo bem, sentem que estão realizando alguma coisa. É como se as palavras certas, verdadeiras, já estivessem dentro deles e eles só precisassem ajudá-las a sair.
Digo a meus alunos tudo sobre o que tenho pensado ou falado ultimamente e que me ajudou a realizar meu trabalho. Existem algumas citações e exemplos de outros escritores que me inspiraram e que distribuo a cada aula. E existem algumas coisas de que meus amigos me lembram quando ligo para eles preocupada, entediada, desanimada, tentando juntar uns trocados para pegar um táxi e ir a algum lugar.
Neste livro, apresento o que aprendi ao longo do caminho, o que transmito a cada novo grupo de alunos. Este é um livro sobre escrita diferente dos outros. É mais pessoal, mais parecido com minhas aulas. Aqui está quase tudo o que aprendi até hoje sobre o ato de escrever.



 LEIA MAIS
LEIA MAIS