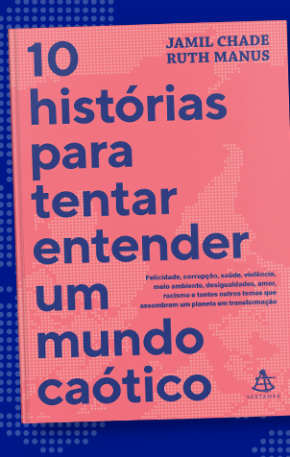Introdução
Em meados de março de 2020, um e-mail profundamente triste circulou entre amigos. Uma jornalista conhecida havia falecido, depois de anos lutando contra uma doença. Mas a mesma mensagem trazia uma segunda notícia dramática: o ato previsto para suas exéquias estava cancelado, por conta da pandemia. Seria uma despedida solitária. Uma vida inteira enterrada sem um adeus.
Escrevemos este livro no primeiro semestre de 2020, momento em que o mundo suspendeu seus planos e a realidade foi virada de cabeça para baixo. E num momento em que poucos ousariam dar garantias sobre o que seria o futuro. Não faltaram casamentos adiados, ampliando por algum tempo a vida de solteiro de alguns. Serão todos eles de fato remarcados? Não faltaram temporadas artísticas canceladas pelos teatros do mundo, colocando em questão se todos aqueles atores e músicos um dia voltariam aos palcos. Não faltaram líderes políticos que concentraram novos poderes, abrindo dúvidas sobre a sobrevivência da democracia.
O que parecia uma história exótica de uma região da China ganhou, de forma silenciosa e invisível, o resto do mundo. Por semanas, nos corredores da Organização Mundial da Saúde (OMS), ouvia-se de dirigentes e técnicos: “Acordem! Isso tudo é muito grave.” Descobrimos um mundo vulnerável e dependente. Um mundo em que a falta de humildade mergulhou países em profundas crises.
O vírus colocou uma parte importante da população mundial em isolamento. Descobrimos um outro ângulo das nossas vidas – e tivemos medo. Perdemos todas as pequenas-grandes seguranças às quais nos agarrávamos em cada dia de vida. O escritório, a padaria da esquina, a escola das crianças, a casa dos pais. Tudo, de repente, nos foi subtraído.
Mas ficamos aliviados quando ouvimos histórias de vizinhos que saíram às suas sacadas para cantar juntos na Itália e na Espanha. Acabamos por conhecer melhor os nossos próprios vizinhos. Quem caminhava pelas grandes cidades europeias durante o auge do coronavírus descobriu algo que desconhecia: o barulho de seus passos. A quarentena de milhões de pessoas transformou Paris, Roma, Madri, Barcelona e tantas outras metrópoles. E gerou algo inédito em um período de paz: o eco do silêncio.
No lugar de ruas lotadas, movimento e turistas, vimos parques fechados e até a bênção do Papa a uma praça vazia. Podia- -se ouvir os pássaros apaixonados da primavera e não faltavam relatos de como certos animais selvagens passaram a se aventurar por locais inesperados.
O silêncio, porém, não era de paz, mas um silêncio pesado, de inquietação. De incerteza. De perguntas. Traumático era comprar jornais e descobrir que as seções de obituário contavam com dez páginas. Milhões de pessoas perderam seus empregos, empresas faliram e a pobreza voltou a ser um tema em locais que pensavam que a tinham superado. O coronavírus só é invisível para quem não quer vê-lo.
Em 2020, o mundo chacoalhou de forma inédita e a pandemia passou a ser o evento que definirá nossa geração. Ela testará nossa confiança na ciência e colocará em xeque a relação entre lideranças políticas e seus cidadãos, justamente no momento em que essa relação está corroída.
Um vírus levou um terço da humanidade a ficar confinado e demonstrou a fragilidade de uma sociedade que acreditava ser invencível. Pequenos temas domésticos se tornaram desafios assombrosos. Exércitos foram colocados nas ruas para lutar contra um inimigo invisível. Guerrilhas nas Filipinas, em Camarões e no Iêmen declararam cessar-fogo por algumas semanas para impedir que o inimigo maior as derrotasse.
Acima de tudo, o vírus impôs perguntas desconfortáveis ao mundo e se estabeleceu como um teste de caráter.
Como é possível que certos governos gastem mais em armas que em remédios? Como aceitamos ir dormir diante da certeza de que um bilhão de pessoas não sabem como sobreviverão ao dia de amanhã? E isso tudo num mundo que produz o suficiente para alimentar três planetas.
Num momento de agonia coletiva, a mão invisível do mercado parece não ter poderes para lidar com o inimigo. Resta apenas a ironia de ver ultraliberais perguntando: onde está o Estado para me proteger agora?
Desconcertante também é a pergunta sobre onde foram parar os líderes. Aqueles que deveriam chamar para si a responsabilidade pelo destino do mundo optaram pela miopia de uma disputa política por mandatos e influência.
E, por fim, a questão central de nossa era: o que garante que uma sociedade esteja em segurança? Tropas ou leitos de hospitais?
Todas essas perguntas já estavam sendo colocadas com insistência ao mundo, mas uma parcela da sociedade optou por ignorá-las, e o vírus nos obrigou a encará-las. O epicentro de nossas vidas continua válido? Nosso comportamento ainda faz sentido? Nossa vida social mudou para sempre?
As mesinhas nas calçadas, os bares, cafés e palcos em praças públicas pelo mundo não são apenas hábitos de lazer. Trata-se de uma parcela do contrato social de democracias vivas. A garantia da segurança pública, da renda, do tempo de lazer, de participação. Ao vermos essas mesinhas vazias, recolhidas e empilhadas, ficou a sombra da possibilidade de que nada seja irreversível. Nada é tão seguro quanto parece.
E se usássemos essa pandemia para desenhar um modelo para ampliar a democracia e garantir que a ocupação dos locais públicos seja um direito universal? E se o isolamento fosse usado como incubadora de uma nova geração de líderes? E se o isolamento fosse aproveitado para ajudar nossos filhos sem escolas por semanas a desenhar a letra A – de ágora?
Em seu livro A peste, Albert Camus conta como a doença que se espalhava pela cidade de Orã gerava em cada um dos moradores um sentimento diferente de exílio e isolamento. Distância daqueles que amamos, de nosso país de origem e até de uma amante.
No começo, todos queriam acelerar o tempo para decretar o fim da peste. Com o passar do tempo, alguns desistiram e outros criaram fantasias paralelas para manter a razão. Todos eram vítimas da mesma epidemia. Todos estavam exilados de seus universos. Mas, se por um lado isso os unia, por outro fazia com que todos vivessem a profunda desconfiança mútua. Resultado: estavam isolados em seu sofrimento.
O nosso exílio em 2020 não pode ser desperdiçado. Ele é uma oportunidade única para a nossa sociedade, fechada, olhar para si mesma e examinar suas prioridades. Nosso contrato social.
E, para isso, teremos de encarar desafios existenciais de forma aberta, corajosa e sem pré-conceitos. Esses desafios não são novos. Alguns, de fato, acompanham a humanidade desde os seus primeiros dias.
Muitos desses pilares de nosso tempo estão reunidos nos dez capítulos deste livro. Alguns deles foram escritos nos intervalos de aulas virtuais com as crianças, em madrugadas de insônia ou em meio às tarefas domésticas intermináveis. E muitos destes capítulos tiveram que ser repensados à medida que os novos números da doença revelavam a dimensão inédita da crise.
Não pretendemos chegar a soluções definitivas ou receitas mágicas – longe disso. Mas queremos provocar um debate muito além da pandemia. Queremos refletir sobre quem somos e para onde queremos ir. Se o nosso mundo já era complexo, agora ele é complexo e urgente. Comecemos, então, conversando sobre ele.
Por Jamil Chade
A última esperança
Migrações • Empatia • Alteridade • Identidade • Humanidade
Da janela do avião a hélice em que eu voava, podia ver como um garoto usava um pedaço de galho para tentar dirigir o destino de vacas e outros animais. Enquanto ele conseguia dar direção ao gado, algumas reses escapavam um pouco adiante. Do assento em que eu estava, quase não consegui ouvir quando o piloto se virou para trás e, competindo com o barulho do motor, gritou que estávamos iniciando a aterrissagem.
Jamais imaginaria que, minutos depois, era sobre aquele local de terra de onde o garoto estava retirando os animais que o avião iria pousar. O que de fato eu tinha visto era a preparação da pista de pouso.
Eu tinha viajado para um lugar a oeste da cidade de Bagamoyo, na Tanzânia, para escrever sobre o impacto da Aids numa das regiões mais pobres do planeta. Mas seria naquele local que eu descobriria, de uma maneira inusitada, a dimensão do drama de imigrantes e refugiados.
Ao longo dos anos, visitei campos de refugiados na fronteira do Iraque, entre o Quênia e a Somália, em Darfur, na rota entre a Turquia e a Europa. Vi milhares de pessoas sem destino. Mas, nas proximidades de Bagamoyo, aquela história era diferente. Oficialmente, não havia uma guerra. Não havia um acampamento de refugiados. Mas eu logo descobriria que nem por isso o desespero deixava de estar presente naquela população.
Eu fazia uma visita a um hospital e esperava para falar com o diretor. Por falta de médicos, ele fora chamado para fazer um parto. Sabia que aquilo significava que eu passaria horas ali, à espera de minha entrevista. Restava fazer o que eu mais gostava nessas viagens: descobrir quem estava ali, falar com as pessoas, perambular pelo local, ler os cartazes e simplesmente observar.
No portão do centro de atendimento, centenas de mulheres com seus véus coloridos aguardavam de forma paciente. Tentavam afastar as moscas, num calor intenso, enquanto o choro de crianças rompia os muros descascados daquela entrada de um galpão transformado em sala de espera.
Ao caminhar para uma das alas, fui barrado. Os enfermeiros me pediram que não entrasse no local. Quando perguntei qual era a especialidade daquela área, disseram que não podiam revelar. Em partes da África, o preconceito e o estigma em relação aos pacientes de Aids obrigam os hospitais a não indicar nem em suas paredes o nome da doença.
Decidi sair do prédio em ruínas e, num dos pátios do hospital, vi duas garotas brincando. Para os padrões do local, estavam muito bem-vestidas, como se estivessem prontas para ir a um evento especial. O uniforme que vestiam, eu logo entenderia, era da única escola de toda a região. A camisa branca que usavam era praticamente um sinal de status social. Ambas estavam orgulhosas. Elas me contaram que sabiam ler, algo raro naquela região. Também me contaram que sabiam onde fica a Europa. Mas não o Brasil. Não tinham mais de 10 anos de idade. E o único momento em que olharam para o chão, sem resposta, foi quando perguntei o que faziam ali.
Mas a curiosidade delas em saber o que um rapaz branco, com um bloco de notas na mão e uma câmera fotográfica, fazia lá era maior que sua vontade de contar histórias. Desisti de seguir com minhas perguntas. Expliquei que era jornalista brasileiro e, para dizer meu nome, mostrei um cartão de visita, que acabou ficando com elas.
Quando iam responder à minha pergunta sobre os seus nomes, nossa conversa foi interrompida por uma senhora que, da porta do hospital, me avisava que o diretor já estava à disposição para a entrevista. Deixei aquelas crianças depois de menos de cinco minutos de conversa. Já caminhando, virei e disse uma das poucas expressões que tinha aprendido em suaíli: kwaheri – “adeus”. Ganhei em troca dois enormes sorrisos.
Terminada a entrevista com o diretor do hospital, confesso que nem sequer notei se as meninas continuavam ou não no pátio. Estava ainda sob o choque de um pedido do gerente da clínica, que, ao terminar de me explicar o que faziam, me perguntou se eu não poderia deixar para eles qualquer comprimido que tivesse na mala. Qualquer um. Até mesmo se o prazo de validade já tivesse expirado.
O que eu não sabia era que aquele momento me daria uma aula do que são a miséria e o desespero na África.
Alguns meses depois, já na Suíça, abri minha caixa de correio de forma despretensiosa ao chegar em casa. Num envelope surrado e escrito à mão, chegava uma carta de Bagamoyo. Pensei comigo: deve ser um erro e a carta deve ter sido colocada na minha caixa por engano. Eu não conheço ninguém em Bagamoyo. Mas o envelope deixava muito claro: era para Jamil Chade.
Antes mesmo de entrar em casa, deixei minha sacola no chão e abri o envelope. Uma vez mais, meu nome estava no papel, com uma letra visivelmente infantil. Eu continuava sem entender. Até que comecei a ler. No texto, em inglês, quem escrevia explicava que tinha me conhecido diante do hospital e que tinha meu endereço em Genebra por conta de um cartão que eu lhe havia deixado.
Como num sonho, as imagens daquelas garotas imediatamente apareceram em minha mente. Mas o conteúdo daquela carta era um verdadeiro pesadelo. A garota me escrevia com um apelo comovedor. “Por favor, case-se comigo e me tire daqui. Prometo que vou cuidar de você, limpar sua casa e sou muito boa cozinheira.” A carta contava que sua mãe havia morrido de Aids – naquele mesmo hospital – e que seu pai também estava morto. Cada um dos oito filhos fora buscar formas de sobreviver e ela era a última da família a ter permanecido na empobrecida cidade. “Preciso sair daqui”, escrevia a garota. A cada tantas frases, uma promessa se repetia: “Eu vou te amar.”
Uma observação no final parecia mais um atestado de morte: “Com as últimas moedas que eu tinha, comprei este envelope, este papel e este selo. Você é minha última esperança.”
Levei dias para entender tudo aquilo, sob o choque da carta. Miséria, morte e fome. Na África, a lógica da vida é a da sobrevivência. Populações inteiras esquecidas pelo planeta. São escravos da pobreza, sem sequer saberem da existência de outras possibilidades. Quando penso em tudo isso, fico imaginando burocratas de governos ocidentais montando estratégias para impedir a migração dessas pessoas para a Europa ou os Estados Unidos.
Aquela garota das proximidades de Bagamoyo estava se vendendo para sobreviver. Era apenas uma criança e, num pedaço de papel, me ensinou que o desespero jamais poderá ser parado com um muro. Ela estava disposta a tudo. Inclusive a entregar seu corpo em troca de uma salvação para seus sonhos.
RUTH: Jamil, eu me lembro perfeitamente do dia em que você me contou essa história pessoalmente. E, depois de ler esse testemunho no papel, parece que ele fica ainda mais real – e mais dolorido. Fiz as contas e concluí que essa garota deve ser um pouco mais nova do que eu, mas não muito. Sou do fim dos anos 1980 e ela deve ser do meio dos anos 1990. Acaba sendo inevitável a tendência de me colocar no lugar dela.
Essa história pode puxar mil debates: pobreza, marginalização, abandono infantil, Aids, miséria. Mas, antes de qualquer coisa, acho que precisamos falar sobre privilégios. Nem sempre é fácil se colocar no lugar do outro. A empatia é algo complicado de se exercitar. Nesse caso, para mim foi fácil. Mas talvez, se estivéssemos falando de um homem de 50 anos no Cazaquistão, minha capacidade de ser empática fosse bastante menor. Por isso acho fundamental falarmos sobre os nossos privilégios, o que nos leva a uma certa compreensão das situações, independentemente de conexão ou identidade.
Ouvimos cada vez mais as pessoas falarem em meritocracia. Essa falsa – e perigosíssima – ideia de que só não estuda quem não quer, só não tem trabalho quem não se esforça. É óbvio que não há nada de errado no fato de algumas pessoas nascerem brancas, em famílias de classe média alta, e posteriormente frequentarem boas escolas e universidades, frequentemente privadas. Na verdade, esse é até o nosso caso. Precisamos entender e admitir que nossas trajetórias foram imensamente facilitadas por esses privilégios. E que, se não fossem eles, dificilmente estaríamos aqui, debatendo ideias neste livro.
Essa sua história berra aos nossos ouvidos – ou evidencia perante nossos olhos – o abismo de privilégios que nos separa de outras pessoas. Pessoas tão humanas quanto nós, com tantos medos quanto nós e tantos sonhos quanto nós (enquanto ainda lhes restam sonhos, não apenas medos). A humanidade que reside nelas é exatamente a mesma que reside em nós. O sangue que corre nas veias delas tem a mesma composição que o nosso. As pessoas – todas as pessoas – deveriam ter o mesmo valor, pelo simples fato de serem pessoas.
Mas não. Sabemos que certas vidas são muito mais valorizadas do que outras. Basta ver a diferença que há na comoção quando um acidente mata 20 pessoas em Paris e quando um acidente mata 200 pessoas na Tanzânia. A vida dessa menina de Bagamoyo não parece ter o mesmo valor que a minha vida. Os privilégios dos quais usufruo me fazem ter um duplo benefício: eu dificilmente me encontraria na situação de risco em que ela se encontrava e, se por acaso isso acontecesse, minha dor geraria muitíssimo mais comoção do que a dela.
JAMIL: Esse ponto é central. No final dos anos 1990, a expectativa de vida na Tanzânia era de apenas 51 anos de idade. No ano de minha viagem – 2007 – o governo local estava comemorando o fato de que essa média tinha chegado a 58 anos de idade, praticamente a mesma taxa que existia no Reino Unido… em 1910! Ou seja, eu estava pousando numa região que se encontrava um século atrasada em comparação com o desenvolvimento social na Europa.
Bagamoyo era o retrato de que, na vida das civilizações, nada está garantido. Vivemos em 2020 um pouco dessa realidade diante da pandemia da Covid-19. Nada é irreversível.
Essa cidade da Tanzânia se transformou, no final do século XVIII, na capital da colônia alemã no leste da África, além de ser um dos principais portos do continente. Em 2007, não tinha mais de 80 mil miseráveis habitantes, que viviam entre as ruínas deixadas pelos comerciantes alemães, indianos, árabes e portugueses que passaram pela região durante séculos.
Três séculos antes de eu passar por ali, Bagamoyo era também um centro de comércio de escravos e de marfim. Um morador local me explicou que o nome “Bwaga-Moyo” significa “Deposite aqui seu coração” na antiga língua local. Até hoje, não há um entendimento sobre se isso era uma mensagem a todos os escravos para que abandonassem qualquer esperança de escapar ou se era uma referência ao alívio que cada um sentia ao descarregar toneladas de marfim que levavam nas costas até o porto da cidade.
Mas Bagamoyo, à beira do oceano Índico, também foi o local de partida de exploradores como Richard Francis Burton em busca das fontes do rio Nilo e das riquezas do interior da África, em meados do século XIX.
Enfim, o que parecia um local abandonado e fora dos avanços da civilização já tinha, no fundo, desempenhado um papel fundamental em outros momentos.
Por que estou fazendo referência a isso? Simplesmente para que possamos entender que, quando falamos de uma certa situação social ou geopolítica, ela não é uma fatalidade, mas sim uma realidade construída. E é apenas assim que podemos falar de imigração ou do drama dos refugiados.
RUTH: Eu acredito que a distância, física e psicológica, que há entre nós e as principais desgraças do nosso século – como guerras, desastres naturais e outros tipos de cenários avassaladores para as pessoas – é uma das maiores armadilhas que temos atualmente. Nossa sensibilidade se torna quase inexistente frente a essa distância que, em certa medida, é bastante confortável.
Quando cursava as matérias do meu doutorado em Lisboa, em 2016, um colega chegou no meio do curso. Seu nome era Ibraheem. Ele não falava português, então a aula de Direito Internacional Público passou a ser em inglês. Tentei me aproximar de Ibraheem. Ele era sírio, de Damasco. Falava muito pouco, era extremamente fechado. Estava sozinho em Lisboa, a família ia tentando se retirar da Síria aos poucos. Quando algum colega tentava perguntar algo sobre a guerra, Ibraheem logo encerrava o assunto (o que é totalmente compreensível).
Foi só em 2016 que a guerra da Síria ganhou um rosto para mim. O rosto redondo, com um quase sorriso leve, de Ibraheem. Até então, essa guerra, para mim, era apenas notícia e estatística. É claro que eu lamentava. Mas a gente só passa a sofrer, de fato, quando se envolve emocionalmente. E, a partir do momento em que eu soube que os pais e a irmã do Ibraheem ainda tentavam sair de Damasco, passei a olhar para as notícias da guerra com outros olhos.
Quando as aulas do doutorado acabaram, Ibraheem não apareceu mais. O número de WhatsApp que eu tinha registrado deixou de funcionar. Seu Facebook nunca mais teve qualquer atualização.
Preferi não pensar mais no assunto. Não chegamos a ser amigos, mas a presença de Ibraheem me fez entender quão tóxica e nociva é a distância insensível que nos separa das guerras, das enchentes, dos incêndios, dos atentados.
Em 2015, a foto de Alan, um menino sírio de 3 anos morto numa praia da Turquia, correu o mundo, comovendo milhares de pessoas em relação às crises migratórias. Eu me pergunto até quando precisaremos particularizar tanto a questão dos migrantes e dos refugiados. Não deveríamos precisar especificamente da imagem de Alan ou de Ibraheem. O sentimento de solidariedade e angústia deveria existir de forma constante e generalizada, não esporádica e pontual. De que será que precisamos para mudar algo que parece ser tão óbvio para qualquer um que tenha um pingo de humanidade?
JAMIL: No dia seguinte à publicação da foto do pequeno Alan na praia, a alta cúpula da ONU me contava que o telefone da entidade não parava de tocar. Eram pessoas comuns que, em choque, queriam saber para onde mandar dinheiro para ajudar a entidade.
Por 20 anos eu tenho dedicado parte do meu tempo a percorrer fronteiras e campos de refugiados pelo mundo – no Iraque, na Grécia, na Turquia, na África e em tantos outros lugares. Caminhei por dias com alguns desses refugiados, justamente para ouvi-los, saber por onde passavam e poder contar suas histórias. Mas o que sempre me surpreende é o fato de que muitas dessas crises de proporções impensáveis simplesmente não existem na opinião pública nem no imaginário coletivo.
Sim, a crise dos refugiados sírios mudou a percepção do mundo sobre o drama desse fluxo de pessoas. E, de fato, desde a Segunda Guerra Mundial, esta é a década em que vimos um número inédito de refugiados pelo planeta. São cerca de 65 milhões de pessoas nessa situação, segundo a própria ONU.
Mas é um engano pensar que a Europa ou os Estados Unidos têm sido “invadidos” por estrangeiros. Sim, os números são elevados. Mas a verdadeira crise de refugiados está nos países pobres, muitos dos quais fazem fronteira com aqueles locais em guerra. De cada dez refugiados no mundo, oito vivem em países pobres. E eles nem sequer existem para muitos de nós. São sombras que o mundo prefere não ver para não ter a obrigação moral de lhes dar uma solução.
Nos últimos anos, vimos governos de extrema-direita na Europa declararem que uma invasão estava acontecendo e que os brancos, cristãos europeus, iriam sumir. Ouvi isso do próprio Viktor Orbán na Hungria no começo de 2020. O ódio que destilam contra os estrangeiros tem como objetivo angariar angústia e transformá-la em voto. Ou seja, em poder. São vendedores de ilusões, charlatões da morte.
Mas a realidade não é exatamente como nos contam. Um exemplo é a situação do Líbano, um país que viu sua população aumentar em 25% por conta da onda de refugiados. Imagine você ver a Alemanha sofrer uma expansão de um quarto de sua população em apenas alguns meses. A Europa teve o cinismo de pagar por anos o regime repressivo de Erdogan na Turquia para manter em seu território mais de 4 milhões de refugiados e não deixá-los seguir caminho para os países da União Europeia.
Mas nada me chocou tanto quanto uma visita que fiz, em 2011, a uma cidade que nem sequer deveria existir, na fronteira entre o Quênia e a Somália. Dadaab, um campo de refugiados, tinha naquele momento meio milhão de pessoas. Só para colocarmos em perspectiva, um só acampamento mantinha a mesma quantidade de gente que Alemanha, França, Espanha, Grécia, Itália e Reino Unido receberam juntos entre 2018 e 2019.
Dadaab é um testamento vivo da tragédia de toda uma região da África e um certificado da falência da estratégia de combate à fome. O acampamento foi criado em 1991, com o objetivo de receber cerca de 30 mil refugiados da guerra civil na Somália. Hoje, é a terceira maior cidade do país.
Ao sobrevoar o campo em um monomotor, em busca da pista de pouso que serve para a ONU e as ONGs que atuam por lá abastecerem o acampamento, a primeira imagem que se tem de Dadaab é a de um tapete de retalhos. Os tetos de plástico, lixo e outros materiais das barracas se perdem de vista em um espelho do fracasso coletivo em evitar a morte de civis inocentes. São 50 quilômetros quadrados do que certamente é a cidade mais miserável do planeta.
Considerado o maior campo de refugiados do mundo, Dadaab é resultado de guerras, miséria e da fome que atinge o Chifre da África. No ano em que estive lá, chegavam ao acampamento 1.500 pessoas por dia, quase sempre da Somália.
Na fuga da fome e da violência, o caminho para muitos foi dos mais dramáticos. Sobreviveram à falta de alimentos, de água, ao calor, às milícias, aos grupos de bandidos e até a animais como hienas e leões. No caminho, centenas de mulheres foram alvo de violência sexual e chegaram grávidas.
Dadaab é uma prisão a céu aberto e seus moradores cumprem uma pena perpétua. Claro, da dimensão de suas curtas vidas. Os refugiados não podem se mover livremente, faltam comida, água e segurança. Quase ninguém tem trabalho e não existe a perspectiva de um dia sair do acampamento. Expulsos de seu país pela fome e a violência, os refugiados descobrem que também não são bem-vindos no Quênia, que os coloca nesse local, e nenhum outro governo no mundo está disposto a realocá-los.
RUTH: Jamil, eu tenho certa vergonha de dizer isto: faço doutorado em Direito Internacional, mas nunca tinha ouvido falar de Dadaab. Poderia me justificar dizendo que meu núcleo de pesquisa é na área de Direito Internacional Econômico, e não de Direito Humanitário, mas não há justificativa plausível. Muito honestamente, me flagro agora num momento de questionamento. Como deixamos que nossas vidas – seja no âmbito acadêmico ou profissional, ou no mero dia a dia – abram espaços tão gigantes para temas que não têm importância nenhuma e se fechem para questões tão nevrálgicas?
A realidade é que nós sabemos, em parte, o porquê de não conhecermos Dadaab. Eu conheço, por exemplo, o campo de refugiados de Calais. Porque é na França, não entre o Quênia e a Somália. E, não, isso não se justifica pelo fato de eu morar num país próximo à França. Isso ocorre única e exclusivamente por causa do valor que atribuímos ao que ocorre no solo da Europa Ocidental e do não valor que damos ao que acontece no Chifre da África e em tantas outras partes do globo.
Peço licença para colocar aqui alguns trechos de um texto que escrevi para o Estadão em 2017, que, não por coincidência, se referia à Somália:
Quatro dias depois do atentado terrorista em Mogadíscio, capital da Somália, sabe-se que há mais de 300 mortos, mais de 400 feridos, centenas de desaparecidos e centenas de pessoas irreconhecíveis por conta das queimaduras causadas pela explosão. Obviamente isso não ganha destaque nas nossas manchetes. Evidentemente não há acompanhamento em tempo real sobre as buscas, sobre o estado de saúde das pessoas, sobre o que aconteceu com os responsáveis pelas explosões, nem sobre as medidas tomadas pelas autoridades.
Não há nenhuma matéria do gênero “quem são as vítimas do ataque terrorista na Somália”. Não há fotos de cada um dos mortos, dizendo se eram solteiros ou casados, quantos anos tinham, se deixam filhos ou com o que trabalhavam. Ninguém está interessado neles. Nos ataques a Paris, Barcelona, Madri, Manchester ou Los Angeles, todos os mortos tinham rosto, profissão, história, família. Cada um deles mereceu alguns segundos da nossa atenção e algumas linhas nos jornais. E, acima de tudo, todos eles “poderiam ser um de nós”.
Já na Somália, não. Parece que neste caso basta uma solidariedade genérica e não individualizada. Porque o atentado é triste, mas as mortes custam muito menos – quase nada – para o mundo. A seca na Somália, os quase 800 mil refugiados, as quase 300 mil crianças gravemente desnutridas definitivamente não tocam o mundo, nem de longe, como toca a morte de uma única pessoa branca.
É quase como se o mundo dissesse, nas entrelinhas, que o destino deles já era esse. A morte era uma questão de tempo, então tudo bem. Ninguém quer saber quem estava naquele hotel, naquelas ruas, naquelas lojas. Poderia ser um de nós? Ninguém quer saber que mães estão chorando a perda dos seus filhos, nem quantos homens jovens ficaram viúvos, nem qual a idade das crianças que morreram carbonizadas em Mogadíscio.
Notícia de morte negra não vende. A não ser que seja o negro morto pela polícia depois de eventual assalto. Essa vende. Na verdade, notícia de vida negra também não. Vida é um conceito relativo. Por isso as mortes da Somália não importam, mas também não importam a seca, a fome e a guerra civil que seguem assombrando os sobreviventes. Porque vivos eles também seguem sem rosto. Viva a nossa solidariedade. Viva o #prayforwhitepeople. Viva a nossa generosidade que confirma que gente branca morta segue valendo mais do que gente negra viva.
Adoraria dizer que, alguns anos depois, esse é um texto desatualizado ou fora de contexto. Mas não é. É uma realidade latente e ininterrupta. A verdade é que sabemos o porquê de a crise dos refugiados ter ganhado tanta visibilidade nos últimos anos. Foi exatamente porque os refugiados chegaram aos países ricos europeus. E, como num passe de mágica, a questão ganhou importância. Mas, repare bem, o que ganhou importância foi a questão. Não foram as pessoas que pedem refúgio.
JAMIL: Sim, Ruth. Essas pessoas têm rosto, nome, sobrenome. Têm sonhos, têm um passado. Lembro-me, em Dadaab, de ter conhecido um sujeito que se apresentou apenas como Faad. Ele conduziu sua família, seu irmão doente e mais de 20 pessoas de seu vilarejo na Somália em direção ao campo de refugiados. Foram três semanas de travessia. Faad me contou que fugia da fome e que, nos últimos dias de caminhada, não tinha mais forças para andar. E não escondeu que dois de seus netos foram enterrados pelo caminho.
Eram 6 da manhã quando Faad e seu grupo avistaram as primeiras barracas de refugiados. Os funcionários internacionais que registravam os novos moradores da cidade ainda não estavam no local, que abriria seus portões apenas duas horas depois. Mas só ver que haviam chegado fez Faad chorar. “Consegui salvar minha família”, me disse. Ele recebeu uma tigela, um saco de alimentos e água.
Mas, ao longo daquele dia, vi no rosto dele como o sentimento de alívio logo se transformou em preocupação. Faad foi informado de que o campo estava lotado e não haveria novas barracas. Teriam de construir suas próprias tendas. Os problemas não paravam por aí. Funcionários da ONU informaram à família que não só não havia espaço como o local onde deveriam montar suas barracas também já estava cheio. A única alternativa era montar a nova moradia no local que era usado até pouco tempo como lixão do campo de refugiados.
Iussuf, irmão de Faad, não escondia a frustração. “Não teríamos vindo se não fosse pela fome. Por que é que o mundo não mandou comida antes para nós? Só mandaram armas, por anos e anos”, disse. “Bastava ter mandado comida e isso nunca teria ocorrido.” Ruth, ele tinha razão.
Quando me despedi deles, Faad apenas me perguntou: “Você sabe quanto tempo ficaremos aqui antes de ir para uma cidade?” Fiz um sinal de incerteza, apenas imaginando como eu poderia dizer que ele havia desembarcado em uma prisão.
Aquelas ruas empoeiradas do acampamento serviam de alerta: por mais que doações sejam feitas e planos de resgate de populações sejam pensados, sem uma estratégia de longo prazo e soluções duradouras aquela cidade nunca desapareceria. Aquele pesadelo seria a única realidade que milhares conheceriam.
RUTH: Para mim é impossível ler essas histórias e pensar nessas situações sem ouvir a voz do Milton Nascimento cantar sobre essa gente que não vive, apenas aguenta. A letra de “Maria, Maria” torna-se global quando pensamos nisso. E talvez seja essa “estranha mania de ter fé na vida” que faz com que essas pessoas encarem travessias tão dramáticas em busca de um amanhã minimamente viável.
Até por isso, sabemos que a ajuda internacional humanitária é tão fundamental como complexa. Sinto que, ao mesmo tempo que admiro profundamente as pessoas – como profissionais ou voluntárias – que se dispõem a encarar essa missão, me incomodo com esse constante reforço da ideia de que os brancos ocidentais “fazem o favor” de ajudar os miseráveis da África (quando, convenhamos, imensa parte dos problemas da África foi gerada por essas mesmas nações ocidentais brancas).
O que você sentiu, quando esteve por lá, em relação a esse ponto, Jamil?
JAMIL: Pois é, Ruth. Naquela noite, já de volta à zona ultraprotegida da ONU onde eu havia conseguido um lugar para dormir, o sentimento que eu tinha era de revolta. Claro que aquela operação estava salvando vidas. Mas ela também fazia parte de um sistema cínico em que remendos são colocados em feridas profundas.
Em Dadaab, a falta de água era crônica, mas dentro das dependências da ONU as picapes da entidade e de ONGs não passavam mais de dois ou três dias sem serem lavadas para continuarem imaculadamente brancas em um cenário de miséria.
Eu me dei conta de que ali, como em todo sistema humanitário, a presença internacional movimenta uma verdadeira indústria, criando demanda por serviços básicos e até beneficiando alguns profissionais locais. Mas uma parte importante do dinheiro voltava exatamente aos países doadores, na forma de salários pagos a seus próprios especialistas, compra de equipamentos de países ricos e custo de manutenção da operação.
Em um estudo, a pesquisadora Linda Polman chegou à conclusão de que a indústria da ajuda humanitária emprega 250 mil pessoas por ano no mundo, movimentando US$ 16 bilhões. Na fronteira entre a Somália e o Quênia, não são apenas os veículos imaculados da ONU que chamam atenção. Em meio a somalis miseráveis, centenas de funcionários de entidades internacionais – bem nutridos, poliglotas, com doutorado em filosofia, ciências sociais ou medicina, e principalmente brancos – atuam para salvar vidas. A grande maioria de fato acredita no que está fazendo, e estou convencido de que podem dormir tranquilos por atuarem como verdadeiros anjos. Mas, se a comunidade internacional quer de fato ajudar, a lógica do assistencialismo com fortes pitadas de colonialismo terá de ser superada.
Num estudo brilhante, a ex-economista do Goldman Sachs Dambisa Moyo estimou que a África recebeu US$ 1 trilhão em ajuda nos últimos 60 anos – apenas para criar dependência e ver 350 milhões de pessoas vivendo com menos de US$ 2 por dia. Ou seja, não está funcionando.
As próprias dependências da ONU são uma prova de que não são só o clima ou a falta de chuvas que geram a fome, mas sim a pobreza extrema e um sistema perverso. Separados da miséria por arame farpado, seguranças armados e muros, os funcionários internacionais viviam em uma verdadeira bolha em Dadaab.
Nos prédios montados pela ONU, havia freezer para bebidas, chocolate, música ambiente no salão de refeições, água limpa e um bar para relaxar no final do dia, administrado por um alemão que servia cerveja gelada e coquetéis. Numa das ocasiões em que passei por lá, um CD de Marisa Monte (que ninguém sabia de onde tinha vindo) embalava a noite estrelada. Mal dava para imaginar que a poucos metros dali, naquela mesma noite, alguém morria de fome.
Nos fins de semana, os locais reservados para a ONU também promoviam festas. Estive numa delas, em que três cabritos foram para a brasa em um churrasco. A grelha ficava ao lado de um espaço que havia sido transformado em pista de dança, com uma sequência de músicas que passava de Shakira aos principais hits do momento. Na porta, o nome da “discoteca”: The Zoo.
Domingo era o dia do tradicional jogo de basquete entre funcionários da ONU, do governo americano e de ONGs, sempre dentro do perímetro do arame farpado e observados com um sentimento confuso de admiração e raiva pelos “habitantes” locais do outro lado da grade.
Ruth, obviamente os funcionários internacionais não devem se submeter a uma pobreza extrema se vão passar meses ali para servir aos refugiados. Não é esse o ponto e não estou aqui criminalizando essas pessoas que deixam suas famílias e o conforto de seus países para salvar vidas. Todos os dias. São heróis anônimos do século XXI.
Mas o que aquilo me mostrava é que a miséria não é uma fatalidade, algo que repito com insistência. Quem morre de fome hoje no mundo morre assassinado. Temos de ser claros sobre isso.
Existe alimento para abastecer três planetas. Existe a cura para muitas das doenças que matam nesses locais ignorados. E existem pessoas dispostas a ir em socorro dessas populações. O que nem sempre existe é o compromisso político para que isso se transforme em realidade. O que existe hoje no mundo é um sistema que serve para estancar o sangue de uma ferida muito mais profunda. Para as “veias abertas” do mundo, o que temos no momento são meros curativos improvisados.
Ao começar a semana, os carros imaculados da ONU voltavam a percorrer as estradas empoeiradas de Dadaab, buzinando para não atropelar crianças e evitando ser alvo de ataques de milícias. Os comboios de 20 a 30 veículos saíam a cada manhã das dependências da ONU lotados de funcionários convictos de que estavam indo salvar vidas. Mas também deixavam um rastro de poeira, barulho e indignação em muitos.
Contra líderes corruptos locais e o descaso do planeta, agências internacionais fazem o que podem. Se elas não existissem, teriam de ser criadas. Mas achar que isso basta é uma ilusão. De certa forma, continuamos vivendo o legado silencioso do colonialismo e o sentimento de que estamos fazendo um favor para essas pessoas.
RUTH: É exatamente esse o ponto. Como mencionei antes, muitos dos problemas que verificamos hoje na África (e também em outros continentes) estão inti mamente relacionados com as sequelas deixadas pelo colonialismo. As linhas retas que dividem o continente africano denotam as “réguas” que foram passadas pelos países europeus quando dividiram os territórios entre si, de forma absolutamente arbitrária e pouco atenta às peculiaridades locais, como as diferentes culturas tribais. Soma-se a isso o colonialismo extrativista praticado por alguns países europeus, que nunca investiram minimamente nas colônias, limitando-se a retirar as riquezas locais e revendê-las.
Falo de tudo isso porque acho uma verdadeira insanidade os países europeus colocarem-se, agora, na posição de “vítimas” dos refugiados, ou de entes caridosos que “fazem o favor” de aceitar a entrada de alguns poucos milhares. Não estou dizendo, de forma alguma, que o processo de acolhimento de refugiados seja simples ou deva ser feito de forma inconsequente e pouco debatida. O que digo é que precisamos olhar para o mundo no qual estamos vivendo, sabendo que o que acontece agora está intimamente relacionado com o que aconteceu nos tempos do colonialismo.
O debate europeu sobre “perda da identidade cultural” não se relaciona apenas com os refugiados, mas com os imigrantes de um modo geral. Por vezes, há uma diferença muito sutil entre aqueles que pedem refúgio oficialmente e aqueles que imigram, frequentemente de forma ilegal, porque nos seus países não há emprego, não há comida, não há segurança. Se pensarmos de forma ampla, os refugiados são muito mais do que aqueles apontados pelos dados da ONU.
Nos tempos em que vivi em Paris, lembro-me de sentir uma tensão no ar que jamais senti no Brasil, nem mesmo nos pontos mais complicados do centro de São Paulo. Um episódio em especial nunca me saiu da cabeça. Era um fim de tarde de primavera e eu caminhava por Les Halles, região central e nobre, próxima ao Louvre, mas também um ponto nevrálgico do metrô de Paris, onde diversas linhas se cruzam e, consequentemente, diversas pessoas também. O Forum des Halles, shopping que serve à estação de metrô, tem um jardim na parte de cima e eu, ao atravessar o jardim, me sentei por alguns minutos, para tomar minha Orangina e retornar a ligação de uma amiga brasileira.
Próximo a mim, havia um grupo de garotas muçulmanas, todas com seus hijabs. Um pouco mais à frente, uma roda com cinco ou seis rapazes negros. Ao lado, dois homens de turbante conversavam. Um pouquinho mais à frente, uma mãe, negra, com seu lindo cabelo trançado e três crianças. Todos eles falavam francês. Foi quando apareceram dois policiais franceses. Além de mim, os policiais eram os únicos ocidentais brancos ali. Transitavam lentamente, quase como carrascos. Olhavam para todos como se fossem suspeitos do crime de existir. A mulher com os filhos se apressou em sair logo dali. As meninas de hijab passaram a falar mais baixo. Os homens de turbante lentamente começaram a circular. Os meninos negros passaram a falar ainda mais alto, como forma sutil de peitar o sistema. A única pessoa que não era visada pelos policiais era eu – curiosamente, a única que não estava falando francês. Curiosamente, a única com cabelos claros à mostra e pele branca. O clima de tensão entre os policiais e os meninos (que não faziam nada além de conversar em voz alta) ia crescendo. Decidi que era hora de ir embora. Um simples fim de tarde em um banco ao ar livre não era sustentável para ninguém.
A França é um dos países nos quais mais se percebem os conflitos culturais, religiosos e comportamentais. Mas, quando observamos a presença tão maciça de marroquinos, argelinos, marfinenses, tunisianos e seus descendentes, vemos um simples jogo de causa e consequência. Outrora a França colonizava esses países, impondo seu idioma e se utilizando de suas riquezas. Hoje, quando o povo desses países se vê em dificuldades, imigra para a “terra mãe”, tão mais rica e tão mais sólida.
Isso sem falar dos inúmeros indivíduos nascidos em solo francês que nunca colocaram os pés na Argélia, na Tunísia ou no Marrocos, que cresceram na França, que falam francês, que estudaram a história da França na escola, mas que nunca serão tratados como franceses por causa da cor de sua pele ou do deus no qual acreditam. A não ser na hora de serem escalados para a seleção francesa de futebol. Aí, sim, serão todos tidos como absolutamente franceses, não como aquelas graves ameaças à nação que conversam sobre futebol num fim de tarde de primavera sobre o Forum des Halles.
JAMIL: Existe uma enorme hipocrisia nesse contexto. Na Copa de 2018, na Rússia, o jogador belga Romelu Lukaku contou uma história muito parecida com o seu raciocínio. Ele escreveu, nas redes sociais, um texto que representou um soco no estômago de muitos de seus compatriotas.
“Quando as coisas estavam indo bem, eu lia artigos nos jornais e eles me chamavam de Romelu Lukaku, o atacante belga”, disse. “Quando as coisas não estavam indo bem, eles me chamavam de Romelu Lukaku, o atacante belga descendente de congoleses”, alertou.
“Se você não gosta de como eu jogo, tudo bem. Mas eu nasci aqui. Eu cresci em Antuérpia, em Liège e em Bruxelas. Sonhei em jogar pelo Anderlecht. Sonhei ser Vincent Kompany. Eu começo uma frase em francês e termino em holandês, e jogarei algum espanhol ou português ou lingala, dependendo do bairro em que estiver. Eu sou belga”, disse. Tanto você como ele estão falando da mesma coisa: identidade.
Ao longo dos últimos anos, a transformação econômica da Europa, a recessão, a explosão do desemprego e, de fato, a chegada dos refugiados levaram charlatões e vendedores de ilusão a usar os estrangeiros como instrumento de poder. Prometeram expulsá-los, construir muros e proteger a Europa branca e cristã. E, com isso, ganharam votos e chegaram ao poder. Entre as várias mentiras que conseguiram impor está a de que essas pessoas tentavam se aproveitar do sistema de saúde da Europa, que eram vagabundos em busca dos benefícios sociais.
Não precisamos ir longe. Os haitianos, bolivianos e venezuelanos pelas ruas das cidades brasileiras revelaram uma sociedade nem sempre tão acolhedora como queremos acreditar que somos. A xenofobia e seu uso político não são fenômenos limitados à Europa.
Pois bem. Deixe-me voltar à África para que possamos colocar em perspectiva o motivo pelo qual essas famílias arriscam a vida dos próprios filhos para cruzar os oceanos em direção à Europa, sem saber nadar.
Sem alimentos nem esperança, vi como centenas de famílias somalis abandonavam parte de suas crianças pelo caminho ou nas portas de escritórios de ONGs. Na estrada para o Quênia, mães eram obrigadas a tomar decisões duras, a escolher quais de seus filhos sobreviveriam. Com alimentos escassos, famílias numerosas acabavam escolhendo as crianças que estavam em melhor condição para continuar vivendo. As demais eram abandonadas.
Muitas das crianças eram deixadas na beira das estradas de terra, na esperança de que outra família com alimentos ou um comboio da ONU as encontrassem e as salvassem da morte. Mas parte delas simplesmente morria pelo calor, desidratada ou de fome.
A luta pela sobrevivência é cruel. Cada um luta para se manter vivo, e essa luta é diária. Mas ela também surpreende. No acampamento de refugiados de Dadaab, conheci crianças que haviam sido “adotadas” por outras famílias de refugiados, miseráveis e sem futuro, mas que guardavam pitacos de humanidade.
Lembro-me de um garoto imundo de areia. Sozinho. Uma família de refugiados o adotou sem nem saber de onde ele vinha. Ninguém sabia seu nome e ele não falava, provavelmente em consequência do choque psicológico que teve. Caminhava com dificuldade, mas parecia entender que era um dos privilegiados a sobreviver. Não por acaso, não desgrudava de sua nova família.
Em Dadaab, conheci meninos de 2 ou 3 anos com o peso de um bebê de apenas 6 meses. Vi a corrupção em meio à distribuição de alimentos e a polícia espancando um garoto que tentava roubar frutas. Testemunhei a tentativa de manipulação de grupos islâmicos radicais na busca de recrutas entre os miseráveis. Descobri o motivo pelo qual governos locais não queriam fazer chegar água aos refugiados: temiam que aquele acampamento se transformasse em uma cidade permanente.
Diante de tudo aquilo, a tentativa de líderes políticos de desenhar esses imigrantes como “aproveitadores” é criminosa. Certamente na rota de refugiados existe o caminho para radicais entrarem na Europa. Certamente existe a fraude nos benefícios sociais. Mas generalizar a ameaça que esses estrangeiros representam é imoral.
Você só coloca o próprio filho em um barco furado, sem saber nadar e nas mãos de criminosos, se a outra opção for ainda mais ameaçadora. Você só migra se a alternativa for a morte certa.
RUTH: Não é preciso muito, né? Basta ter senso de humanidade. Quando ouço pessoas verbalizarem aquele raciocínio barato de tomar a parte pelo todo, pegando um único caso de refúgio indevido e utilizando-o para contaminar todos os milhões de casos em que isso não só é justo como é fundamental, me pergunto se trata-se de má-fé, ignorância ou de algum tipo de autodefesa.
Menciono a autodefesa porque é muito frequente as pessoas buscarem justificativas para se dessensibilizarem. A partir do momento em que eu coloco de alguma maneira a culpa nas vítimas, me dou o direito de não sentir empatia nem ser solidário. É uma forma bem nefasta de evitar esse sofrimento coletivo. E esse é um comportamento que vemos frequentemente em casos de violência sexual. Para evitar a empatia (e a dor que decorre dela), algumas pessoas invertem o ângulo da história, procurando algum viés de culpa da vítima – o que é indecente.
É muito duro lidar com essas realidades. Mas, se não queremos viver de forma alienada nem absolutamente egoísta, temos que enxergar, temos que saber, temos que sentir. Eu não sinto prazer em receber os calendários dos Médicos sem Fronteiras, com fotos das crianças subnutridas sendo atendidas. Mas sei a importância disso. Deixo-os expostos em casa, para que, além de mim, minha enteada e meu marido também os vejam diariamente, nos lembrando de quão privilegiados somos e de quão importante é o ato de olharmos para o lado.
Nos países colonizadores, que agora se flagram intimados a responder a algumas consequências da colonização, a tentativa de evitar sentimentos empáticos frente aos refugiados e imigrantes é ainda mais latente. Uma música que eu adoro, chamada “Quitte à t’aimer”, da banda de hip hop francesa Hocus Pocus, de Nantes, foi dedicada ao país na ocasião da eleição do Sarkozy. O nome da música quer dizer, em português, “Deixo de te amar”. Ela diz muito sobre essa resistência e, sobretudo, sobre essa cisão entre “nós” e “eles”.
Pourquoi la main sur le coeur, cette étrange chanson
“Qu’un Sang Impur abreuve nos sillons”?
Avec ta langue maternelle et celle de tes ancêtres,
Tes enfants n’en font qu’à leurs lettres. Ils te parlent et tu restes blême
Quand ils disent “J’te kiffe” pour te dire “Je t’aime”
Nesse trecho, eles transcrevem uma parte do hino nacional francês, a “Marselhesa”, que diz que “um sangue impuro rega os nossos sulcos”. Há muito debate sobre o significado dessa expressão até hoje. Alguns dizem que se trata do sangue impuro dos próprios franceses, outros dizem que é o sangue dos inimigos, outros dizem que é o sangue impuro de todos aqueles que são “não franceses”, uma vez que o único sangue puro seria o deles. Não sabemos. Mas, na letra, os músicos questionam o porquê dessa “estranha canção”, referindo-se ao trecho do hino.
Na sequência, trazem uma ironia curiosa. Dizem que os jovens franceses, com a língua materna dos ancestrais (ou seja, o francês “puro”), não fazem nada além de escrever algumas cartas. Porque no dia a dia as gírias derivadas da imigração são o que reina no vocabulário dos jovens, que dizem “j’te kiffe” para dizer “eu te amo”. A palavra “kif”, de origem árabe, é uma forma de dizer haxixe, e a gíria conecta o termo “kif” a ter prazer, gostar, amar algo. Tanto se usou o termo na França que surgiu o verbo afrancesado “kiffer” como sinônimo de “aimer”, ou seja, amar. É absolutamente corriqueiro ouvir jovens franceses dizerem “je kiffe” para se referirem a algo de que gostam em vez de usarem a expressão francesa “j’aime”.
As provocações da música (e ao longo da letra há muitas mais) são todas relacionadas ao sentimento de exclusão derivado do nacionalismo. A divisão do mundo entre “bons e maus”, entre “certos e errados”, entre “os que têm direitos e os que não têm” se intensifica cada vez mais.
Mas eu volto a dizer: basta ter senso de humanidade. Pessoas são pessoas. Já não estamos na idade de nos basearmos em maniqueísmos, de dividir o mundo em vilões e mocinhos. Seres humanos devem ser vistos como seres humanos. Até porque, quando alguém olha para o outro sem nenhuma espécie de empatia, quem perde a condição humana é ele.
JAMIL: Identidades, ao longo da história, foram estabelecidas em acordos, desacordos, negociações e guerras. Mas também pela relação de dependência e por uma construção social. A definição do “outro” é muito mais uma construção de narrativa para justificar uma política, uma ideologia ou uma discriminação do que um critério com base em diferenças reais.
Nessa definição, ainda é central a questão da assimetria de poder. Apenas um lado nessa relação “nós x eles” pode definir tal diferença. O “outro” nessa equação está subjugado, dependente, colonizado ou escravizado.
Ao mesmo tempo, se existe algo permanente na história do mundo, é o fluxo de populações. Fico imaginando se não deveríamos considerá-lo como o oxigênio do próprio planeta. Repito o que eu disse no início: a falácia de populistas sobre o fechamento de fronteiras e a transformação do estrangeiro em bode expiatório simplesmente não condizem com as necessidades e a realidade de suas sociedades.
Certamente governos têm a responsabilidade de proteger suas populações. Mas, em nome disso, podemos aceitar que uma família seja devolvida ao país de onde fugiu da morte?
Durante dias, caminhei com refugiados sírios pelos Bálcãs em 2015. Eles tentavam chegar às cidades da Alemanha. Na Sérvia, aqueles milhares de pessoas exaustas usavam velhos trilhos de trem, transformados em GPS, para atingir a fronteira com a Hungria. Lembro-me de uma cena que ficará guardada em minha mente para sempre: uma senhora de idade sendo empurrada em uma cadeira de rodas e seus filhos superando com um solavanco cada um dos dormentes dos trilhos. Uma cena surreal pelo absurdo daquela condição, da cegueira da comunidade internacional e da perda dessa tal condição humana. Quando se deram conta do meu espanto, um deles sorriu e me disse: “Família sempre unida.”
A poucos quilômetros dali, a massa de refugiados foi surpreendida por um helicóptero, dessa vez do governo húngaro. De suas portas abertas, milhares de papéis foram jogados sobre as cabeças das pessoas. Abaixei para pegar um deles, apenas para me revoltar. “Estrangeiros, o governo da Hungria não irá tolerar o cruzamento ilegal de suas fronteiras”, dizia o texto em inglês e árabe.
Mais impressionante ainda foi o fato de que, à minha volta, nenhum deles parou de caminhar após ler a mensagem. Aquele grupo finalmente descobriria, assim como eu, que o governo húngaro havia erguido uma cerca de arame farpado, com policiais e cachorros, para impedi-los de passar. E eu me perguntava: esta é a Europa da civilização e do humanismo?
A realidade, Ruth, é que, entre as dezenas de lições que a pandemia de coronavírus nos escancarou, uma é extremamente irônica. Diante das restrições de voos e do fechamento das fronteiras, a Europa descobriu que não tinha mais a mão de obra desses estrangeiros para realizar a colheita de suas frutas e seus legumes.
A cada ano, a Europa necessita de algo entre 800 mil e 1 milhão de trabalhadores temporários no campo, muitos deles estrangeiros. Para citar apenas um exemplo, na região de Huelva, na Espanha, a colheita do morango foi duramente afetada em 2020 pela falta de imigrantes marroquinos.
Em Roma, o debate ganhou contornos políticos. A ministra da Agricultura, Teresa Bellanova, publicou um editorial propondo que todos os 600 mil imigrantes irregulares no país fossem legalizados para ajudar a reconstruir a economia. Uma parte significativa deles iria para o campo. “Não podemos deixar que os produtos apodreçam nos campos enquanto cada vez mais pessoas no país têm fome”, escreveu.
Na Alemanha, o governo negociou voos fretados da Lufthansa para trazer imigrantes de locais como a Romênia. A Saxônia, curral eleitoral dos partidos mais xenófobos do país, lançou um apelo para que estrangeiros com treinamento médico se apresentassem para ajudar a combater a pandemia – mesmo que seus diplomas ainda não tivessem sido validados pelo governo.
Fico apenas imaginando um eleitor de um desses partidos que usaram o ódio contra o estrangeiro para ganhar votos sendo socorrido por um refugiado. Ou famílias que, num supermercado de um bairro abastado de Milão, se queixam do preço elevado do morango, que já não pode mais ser colhido com os salários miseráveis pagos aos estrangeiros.
De uma ironia profunda foi também o porta-voz da saída do Reino Unido da União Europeia, o primeiro- -ministro Boris Johnson, ter sido tratado por um enfermeiro português enquanto estava na UTI, contaminado pelo coronavírus. Será que aquele “estrangeiro” estaria ali se as políticas de Johnson já estivessem em vigor no que se refere ao Brexit?
Nesses casos, descobrimos que não são as fronteiras que nos protegem, mas sim a paz social. O “outro”, neste mundo, faz parte de mim.