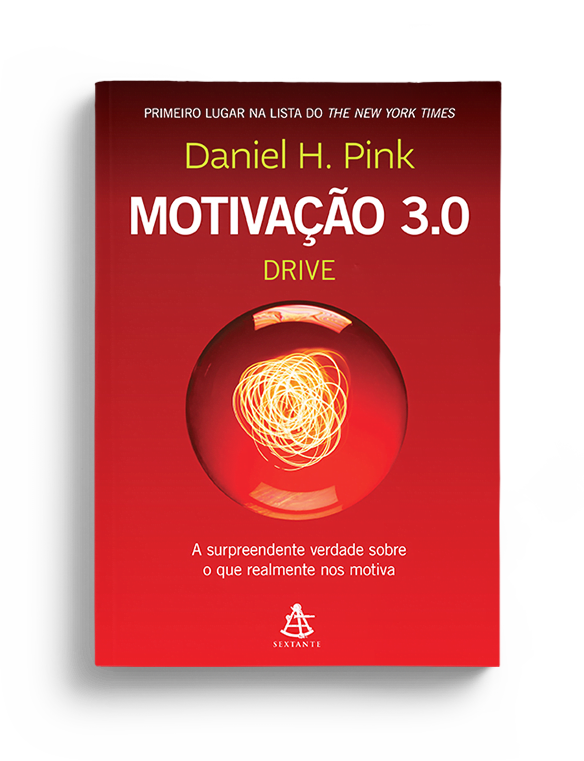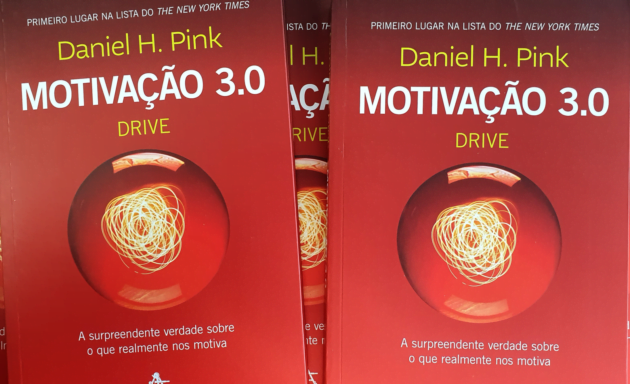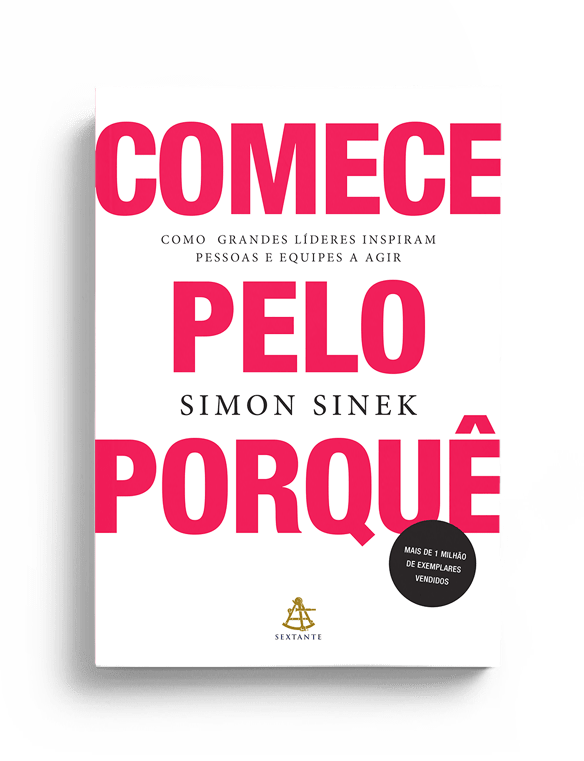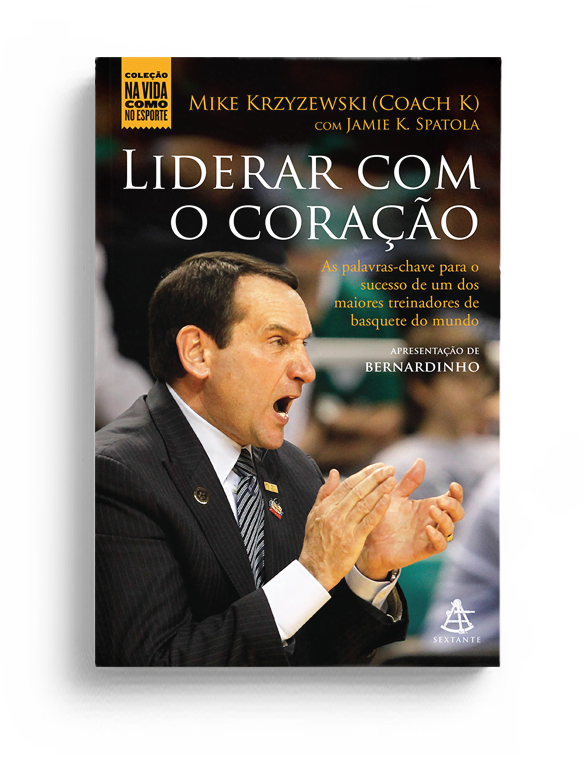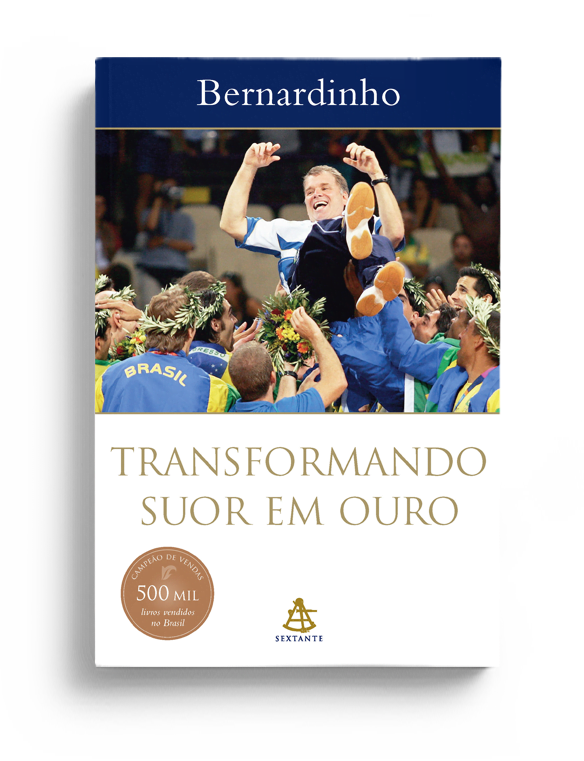Introdução
Os intrigantes quebra-cabeças de Harry Harlow e Edward Deci
Em meados do século XX, dois jovens cientistas realizaram experimentos que deveriam ter mudado o mundo – mas não mudaram.
Harry F. Harlow foi um professor de psicologia da Universidade de Wisconsin que, na década de 1940, criou um dos primeiros laboratórios do mundo para estudar o comportamento dos primatas. Certo dia de 1949, Harlow e outros dois pesquisadores reuniram oito macacos rhesus para um experimento de duas semanas sobre aprendizado. Eles elaboraram um quebra-cabeça mecânico simples, como o mostrado na ilustração da página seguinte. A solução se dava em três passos: puxar o pino vertical, soltar o gancho e levantar a tampa articulada. Bem fácil para mim e para você, porém bem mais desafiador para um macaco de laboratório.
Os pesquisadores colocaram os quebra-cabeças nas jaulas dos macacos para observar como eles reagiam – e prepará-los para os testes que fariam ao final das duas semanas para avaliar suas competências na resolução de problemas. Porém algo estranho ocorreu quase imediatamente: sem qualquer estímulo do ambiente externo nem dos pesquisadores, os macacos começaram a brincar com os quebra-cabeças com foco, determinação e, ao que parecia, prazer. E não demoraram a descobrir como a engenhoca funcionava. No 13o e no 14o dias do experimento, quando Harlow realizou os testes de avaliação, os primatas haviam se tornado exímios nos quebra-cabeças, solucionando-os com rapidez; e, em dois terços das vezes, em menos de 60 segundos.
Estranho. Ninguém havia ensinado aos macacos como remover o pino, puxar o gancho e abrir a tampa. Ninguém os recompensara com comida, afeto ou mesmo um sinal de aprovação quando conseguiam. E aquilo ia contra o que se sabia sobre o comportamento dos primatas – inclusive os primatas menos peludos e de cérebro maior conhecidos como seres humanos.
À época, os cientistas sabiam que dois impulsos principais acionavam o comportamento. O primeiro era o biológico. O ser humano e outros animais comiam para saciar a fome, bebiam para saciar a sede e copulavam para satisfazer seus impulsos carnais. Não era o que estava acontecendo ali. “A solução [dos quebra-cabeças] não levava a comida, água nem gratificação sexual”, relatou Harlow.1
O único outro impulso conhecido tampouco explicava o comportamento peculiar dos macacos. Se as motivações biológicas vinham de dentro, esse segundo impulso vinha de fora: as recompensas e punições fornecidas pelo ambiente em decorrência de certos tipos de comportamento. Isso sem dúvida era verdade para os seres humanos, que reagiam perfeitamente a tais forças externas. Se nos prometessem aumentar nosso salário, trabalharíamos mais. Se nos oferecessem a perspectiva de tirar nota 10 na prova, estudaríamos com mais afinco. Se ameaçassem descontar do nosso salário os atrasos ou o preenchimento incorreto de um formulário, chegaríamos na hora e marcaríamos corretamente cada quadrado. Mas isso tampouco explicava as ações dos macacos. Quase vemos Harlow coçando a cabeça no seguinte trecho de seu relatório: “O comportamento obtido nessa investigação levanta algumas questões interessantes para a teoria da motivação, pois alcançamos um aprendizado significativo e mantivemos um desempenho eficiente sem recorrermos a incentivos especiais ou extrínsecos.”
Que outra explicação haveria?
Para responder a essa pergunta, Harlow ofereceu uma teoria nova – o que equivalia a um terceiro impulso: “Realizar a tarefa consistia em uma recompensa intrínseca.” Os macacos solucionavam os quebra-cabeças simplesmente porque achavam gratificante. Era divertido. O prazer da tarefa era a recompensa.
Se essa ideia era radical, o que aconteceu em seguida apenas aprofundou as dúvidas e a controvérsia. Esse impulso recém-descoberto – que Harlow veio a chamar de “motivação intrínseca” – podia até ser real, mas com certeza estava subordinado aos outros dois. Se os macacos fossem recompensados (com passas!), seu desempenho seria, sem dúvida, ainda melhor. No entanto, quando Harlow testou essa hipótese, os macacos na verdade cometeram mais erros e solucionaram os quebra-cabeças com menos frequência. “A introdução de comida no atual experimento teve efeito negativo no desempenho, um fenômeno não relatado na literatura”, escreveu Harlow.
Agora as coisas estavam muito estranhas. Em termos científicos, era como se tivessem lançado uma bola de aço em um plano inclinado para medir sua velocidade e vê-la flutuar. Aquele resultado sugeria que nossa compreensão das forças de atração gravitacional atuantes sobre nosso comportamento era imprecisa, que as supostas leis fixas continham muitas falhas. Harlow enfatizou a “força e persistência” do impulso dos macacos para solucionar os quebra-cabeças. Depois, observou:
Tudo indica que esse impulso […] pode ser tão fundamental e forte quanto os [outros] impulsos. Além disso, há razão para acreditarmos que possa ser igualmente eficiente em promover o aprendizado.2
Naquela época, porém, o pensamento científico só tinha olhos para os dois impulsos conhecidos. Assim, Harlow fez soar o alarme. Pediu aos cientistas que abandonassem grandes volumes da sua “sucata teórica” e oferecessem explicações novas e mais precisas do comportamento humano;3 advertiu que a explicação do porquê de nossas ações estava incompleta; e afirmou que, para entendermos de fato a condição humana, teríamos que levar em conta aquele terceiro impulso.
Depois ele praticamente deixou essa ideia de lado.
Em vez de combater o establishment e investir em uma visão mais completa da motivação, Harlow abandonou essa linha de pesquisa controversa. Mais tarde, ele ganhou fama por seus estudos sobre a ciência da afeição.4 Sua ideia sobre o terceiro impulso continuou rondando a literatura psicológica, mas permaneceu na periferia – das ciências do comportamento e de nossa compreensão de nós mesmos. Decorreriam duas décadas até que outro cientista retomasse a linha de investigação que Harlow deixara tão provocadoramente na mesa daquele laboratório em Wisconsin.
Em meados de 1969, Edward Deci era um estudante de pós-graduação na Universidade Carnegie Mellon em busca de um tema para sua dissertação. Deci, que já obtivera um MBA pela Wharton School, tinha grande interesse pelo assunto da motivação, mas suspeitava que acadêmicos e empresários não a compreendessem bem. Assim, seguindo o caminho aberto por Harlow, pôs-se a estudar o tema com a ajuda de um quebra-cabeça.
Deci escolheu o cubo Soma, um brinquedo então popular vendido pela Parker Brothers e que, graças ao YouTube, hoje é uma espécie de objeto de culto entre seus fãs. O quebra-cabeça, mostrado a seguir, consiste em sete peças: seis delas compostas de quatro cubos de 2,5 centímetros e uma de três cubos, também de 2,5 centímetros. Com essas sete peças, é possível montar milhões de combinações, desde formas abstratas a objetos reconhecíveis.
Para o estudo, Deci dividiu os participantes – homens e mulheres universitários – em dois grupos: um experimental (que chamarei de Grupo A) e um de controle (que chamarei de Grupo B). Cada grupo participou de três sessões de uma hora cada, realizadas em dias consecutivos.
As sessões funcionavam da seguinte maneira: cada participante entrava numa sala e se sentava a uma mesa onde estavam as sete peças do quebra-cabeça Soma, desenhos de três montagens possíveis e exemplares das revistas Time, The New Yorker e Playboy (Ei, era 1969!). Deci ficava na outra ponta da mesa, para explicar as instruções, avaliar o desempenho e cronometrar o tempo.
Na primeira sessão, membros dos dois grupos tiveram que montar as peças para reproduzir as configurações diante deles. A segunda sessão foi a mesma coisa, apenas com desenhos diferentes – só que dessa vez Deci informou aos participantes do Grupo A que eles receberiam 1 dólar (o equivalente a 6 dólares hoje) para cada configuração reproduzida, enquanto o Grupo B recebeu os desenhos novos sem a oferta de pagamento. Finalmente, na terceira sessão ambos os grupos receberam desenhos novos e tiveram que reproduzi-los sem qualquer remuneração, como na primeira sessão.
A reviravolta acontecia na metade de cada sessão. Depois que um participante tivesse reproduzido dois dos três desenhos, Deci interrompia os procedimentos. Dizia que lhes daria um quarto desenho, mas, antes, precisava inserir em um computador a informação dos tempos de conclusão deles. E, para isso, teria que deixar a sala por um momento (em 1969, os computadores ainda ocupavam uma sala inteira; os desktops ainda estavam a uma década de distância).
Ao sair, ele dizia: “Volto em alguns minutos, podem fazer o que quiserem durante minha ausência.” Mas Deci não ia inserir números num teletipo antigo: ele se dirigia a uma sala adjacente com uma janela unidirecional que lhe permitia acompanhar o que acontecia na sala do experimento. Ali, Deci observava por exatos oito minutos o que as pessoas faziam quando deixadas sozinhas. Será que elas continuavam mexendo no quebra-cabeça, talvez tentando reproduzir o terceiro desenho? Ou será que faziam algo diferente, como folhear as revistas, admirar a modelo no pôster da Playboy, contemplar o nada, tirar um rápido cochilo?
Na primeira sessão, previsivelmente, não houve grandes diferenças entre o que os participantes dos Grupos A e B fizeram durante o período de oito minutos. Todos continuaram mexendo no quebra-cabeça durante, em média, três e meio a quatro minutos, sinal de que o acharam ao menos um pouco interessante.
No segundo dia, quando os participantes do Grupo A foram pagos por cada montagem correta, o Grupo B (não pago) se comportou mais ou menos da mesma forma que no período livre do dia anterior. Mas o grupo pago subitamente se tornou muito interessado no quebra-cabeça: em média, os participantes do Grupo A passaram mais de cinco minutos entretidos com o cubo, talvez para adiantar a tarefa do terceiro desafio ou para praticar e assim ter mais chances de ganhar um trocado quando Deci retornasse. Isso faz sentido intuitivamente, certo? É compatível com o que acreditamos sobre motivação: “Me dê uma recompensa que eu me esforçarei mais.”
No entanto, o que ocorreu no terceiro dia confirmou as suspeitas de Deci sobre o funcionamento peculiar da motivação – e delicadamente pôs em dúvida uma premissa norteadora da vida moderna. Dessa vez, Deci informou aos participantes do Grupo A que seu orçamento cobria apenas um dia e que, portanto, aquela terceira sessão ficaria sem pagamento. O restante da sessão se desenrolou exatamente como antes: duas montagens, seguidas pela interrupção de Deci.
Durante o período de oito minutos sozinhos daquele terceiro dia, os voluntários do Grupo B, que não receberam pagamento em nenhuma sessão, brincaram com o quebra-cabeça por um tempo ainda maior que nos dias anteriores; talvez estivessem se envolvendo mais, ou talvez fosse mera singularidade estatística. Mas os participantes do Grupo A, que haviam sido pagos, reagiram de modo diferente: passaram bem menos tempo brincando com o quebra-cabeça. E não apenas uns dois minutos a menos do que na sessão paga, mas cerca de um minuto inteiro a menos que na primeira sessão, quando entraram em contato pela primeira vez com o quebra-cabeça e nitidamente o apreciaram.
Em um eco do que Harlow descobrira duas décadas antes, Deci revelou que a motivação humana parecia operar segundo leis que contrariavam as crenças da maioria dos cientistas e cidadãos. Do escritório ao campo de jogo, todos sabiam o que movia as pessoas: recompensas – em especial, o frio dinheiro – intensificavam o interesse e melhoravam o desempenho. O que Deci descobriu, e logo depois confirmou em dois novos estudos, foi quase o contrário. “Quando o dinheiro é usado como recompensa externa para certa atividade, os voluntários perdem o interesse intrínseco pela atividade”, escreveu ele.5 Recompensas podem funcionar como incentivo de curto prazo, tal como uma dose de cafeína pode nos manter ativos por mais algumas horas, mas o efeito é efêmero – e, pior, pode reduzir nossa motivação de prazo mais longo, isto é, pela continuidade do projeto.
O ser humano, de acordo com Deci, tem uma “tendência intrínseca a buscar novidades e desafios, a ampliar e exercitar suas capacidades, a explorar e a aprender”. Esse terceiro impulso, no entanto, era mais frágil do que os outros dois; precisava do ambiente certo para sobreviver. “Quem estiver interessado em desenvolver e aumentar a motivação intrínseca em crianças, funcionários, estudantes, etc. não deve se concentrar em sistemas de controle externo, como recompensas monetárias”, escreveu Deci em um artigo complementar.6 Assim começou o que se tornou para ele uma busca vitalícia para repensar por que fazemos o que fazemos – uma busca que algumas vezes o pôs em conflito com outros psicólogos, levou à sua demissão de uma escola de negócios e desafiou os pressupostos operacionais de organizações por toda parte.
“Aquilo foi controvertido”, Deci comentou comigo certa manhã de primavera, quarenta anos após os experimentos com o Soma. “Ninguém estava esperando que recompensas tivessem um efeito negativo.”
Este é um livro sobre motivação. Mostrarei que grande parte de nossas crenças sobre o assunto está equivocada – e que as revelações que Harlow e Deci começaram a desvendar algumas décadas atrás chegam bem mais perto da verdade. O problema é que a maioria das empresas não se atualizou nessa nova compreensão do que nos motiva. Um sem-número de organizações – não apenas privadas, mas também governos e ONGs – ainda funciona sob pressupostos acerca do potencial humano e do desempenho individual desatualizados, irrefletidos e mais arraigados no folclore do que na ciência. Continuam seguindo práticas como planos de incentivos de curto prazo e sistemas de pagamento pelo desempenho mesmo em face de indícios crescentes de que tais medidas costumam não funcionar e muitas vezes têm até efeito inverso. Pior, essas práticas se infiltraram nas universidades americanas, onde a futura força de trabalho é provida com iPods, dinheiro e cupons para pizza a fim de “incentivar” os estudantes a aprender. Algo saiu errado.
A boa notícia é que a solução está bem à nossa frente: no esforço de um grupo de estudiosos das ciências do comportamento que levaram adiante as pesquisas pioneiras de Harlow e Deci e cujo trabalho discreto no último meio século nos permite uma visão mais dinâmica da motivação humana. Há muito tempo existe um desencontro entre o que a ciência sabe e o que as empresas fazem. O objetivo deste livro é suprir essa lacuna.
Motivação 3.0 é dividido em três partes. A Parte Um avalia as falhas em nosso sistema de recompensa e punição e propõe uma nova forma de pensar sobre motivação. O Capítulo 1 examina como a visão predominante da motivação está se tornando incompatível com muitos aspectos da vida e dos negócios contemporâneos. O Capítulo 2 revela as sete razões pelas quais motivadores extrínsecos baseados em recompensas e punições costumam produzir o oposto do que pretendem alcançar. (Depois disso vem um breve adendo, o Capítulo 2A, que mostra as circunstâncias especiais em que recompensas e punições podem de fato ser eficazes.) O Capítulo 3 apresenta o que chamo de comportamento “Tipo I”, uma forma de pensar e de conduzir os negócios baseada na verdadeira ciência da motivação humana e acionada por nosso terceiro impulso: a necessidade inata de conduzir a própria vida, de aprender e criar e de fazer o melhor por nós e nosso mundo.
A Parte Dois examina os três elementos do comportamento de Tipo I e mostra como indivíduos e organizações os estão usando para melhorar seu desempenho e aumentar sua satisfação. O Capítulo 4 explora a autonomia, nosso desejo de seguir o próprio caminho. O Capítulo 5 examina a excelência, nosso desejo de melhorar cada vez mais no que fazemos. O Capítulo 6 explora o propósito, nosso anseio por fazer parte de algo maior do que nós.
A Parte Três, O Kit de Ferramentas do Tipo I, é um amplo conjunto de recursos para ajudá-lo a criar ambientes onde o comportamento de Tipo I possa florescer. Nela você achará de tudo, desde dezenas de exercícios para despertar a motivação em você e nos outros até questões para discussão em clubes de leitura, passando por um breve resumo de Motivação 3.0 que o ajudará a ter bons argumentos num evento social. E, embora este livro foque sobretudo o setor de negócios, você encontrará também algumas reflexões sobre como aplicar esses conceitos na educação e em outras áreas da vida.
Mas, antes de tudo, vamos começar por um experimento imaginário que exige um recuo no tempo – voltemos a uma época em que John Major era o primeiro-ministro britânico, Barack Obama era um jovem professor de direito magrela, a internet era discada e blackberry não passava de uma fruta.