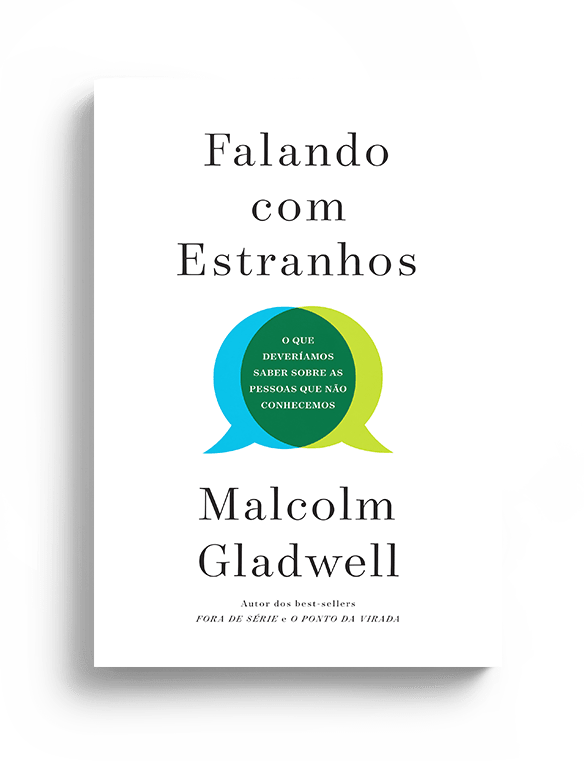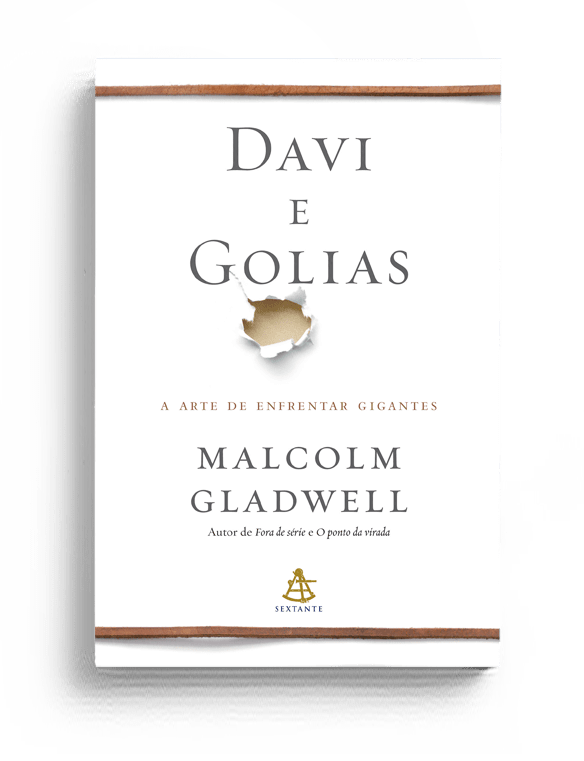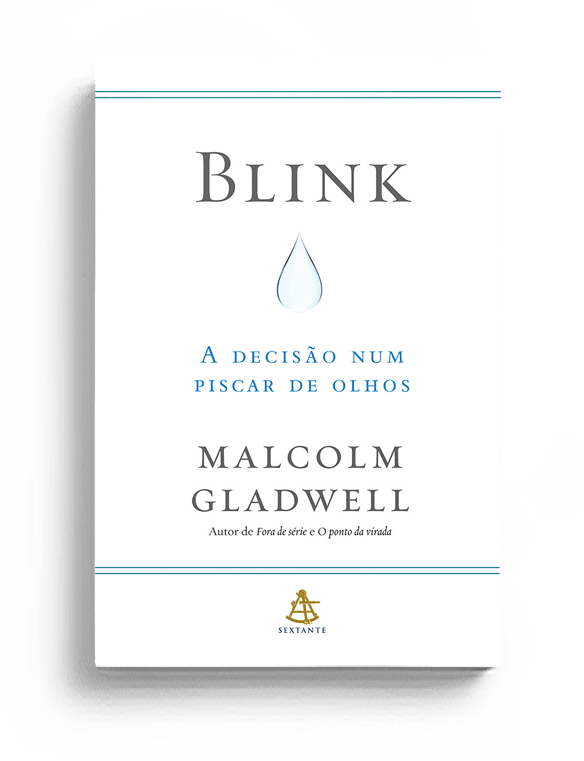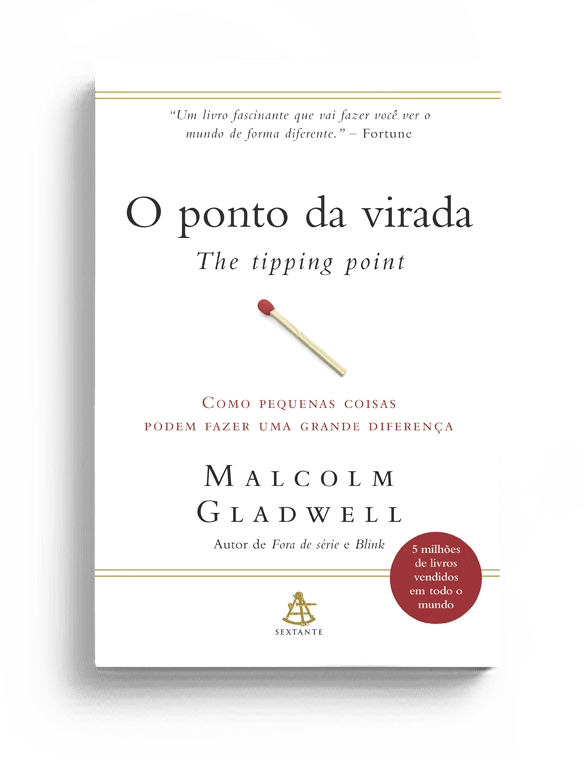NOTA DO AUTOR
Na infância, deitado em sua cama, meu pai escutava os aviões passando lá no alto. Chegando. E depois, perto do amanhecer, voltando para a Alemanha. Ele morava na Inglaterra, em Kent, alguns quilômetros a sudeste de Londres. Meu pai nasceu em 1934, o que significa que tinha 5 anos quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Os britânicos chamavam Kent de Corredor das Bombas, porque os aviões militares alemães sobrevoavam o condado em sua rota até Londres.
Naqueles anos, não era incomum que bombardeiros que perdessem algum alvo ou tivessem bombas sobrando simplesmente as despejassem em qualquer lugar pelo caminho na viagem de volta. Um dia, uma dessas caiu no quintal dos meus avós. Ela não explodiu. Apenas ficou lá, meio enterrada no chão ‒ e, para um menino de 5 anos interessado em qualquer coisa mecânica, uma bomba alemã não detonada no quintal seria a experiência mais extraordinária do mundo.
Não que meu pai tenha descrito a situação dessa forma. Ele era matemático. E inglês, o que significa que emoção não era sua língua materna. Na verdade, era mais como o latim ou o francês ‒ algo que você pode estudar e até compreender, mas nunca dominar. Não, a suposição de que uma bomba intacta no quintal de casa seria a experiência mais extraordinária do mundo para um menino de 5 anos foi a minha interpretação depois de ouvir essa história do meu pai quando eu tinha 5 anos.
Isso foi no final da década de 1960. Nós morávamos na Inglaterra na época, em Southampton. Ainda havia lembretes das adversidades pelas quais o país tinha passado por todo canto. Se você fosse a Londres, dava para identificar os lugares bombardeados ‒ todos os pontos em que um edifício horroroso de estilo brutalista havia brotado em meio a um quarteirão centenário.
Lá em casa, sempre ouvíamos a Rádio BBC, e naquela época parecia que a maioria das entrevistas era com um velho general, um soldado paraquedista ou algum prisioneiro de guerra. O primeiro conto que escrevi quando garoto foi sobre a ideia de que Hitler na verdade ainda estava vivo e voltaria para atacar a Inglaterra. Eu o enviei para a minha avó em Kent, a que abrigou a bomba não detonada no quintal. Quando minha mãe ficou sabendo, me deu uma bronca: quem tinha vivido a guerra talvez não gostasse de um enredo sobre o retorno de Hitler.
Uma vez, eu e meus irmãos fomos com meu pai a uma praia no canal da Mancha. Juntos, passeamos pelas ruínas de uma antiga fortaleza da Segunda Guerra. Ainda me lembro da empolgação pela possibilidade de encontrarmos velhos cartuchos, balas ou até o esqueleto de algum espião alemão há muito esquecido e levado pela maré.
Acho que nunca abrimos mão das coisas que nos fascinavam na infância. Pelo menos comigo é assim. Sempre brinco que se o livro tem a palavra espião no título, eu já li. Um dia, alguns anos atrás, enquanto observava minhas estantes, me dei conta ‒ com certa surpresa ‒ de quantos livros de não ficção sobre guerra eu tenho. Os principais best-sellers históricos, mas também alguns especializados. Autobiografias raras. Textos acadêmicos. E sobre qual aspecto da guerra trata a maioria desses livros? Bombardeios. Air Power, de Stephen Budiansky. Rhetoric and Reality in Air Warfare, de Tami Davis Biddle. Decision over Schweinfurt, de Thomas M. Coffey. Prateleiras inteiras cheias dessas histórias.
Em geral, quando começo a acumular livros desse jeito, é porque quero escrever sobre o assunto. Tenho prateleiras lotadas de obras de psicologia social porque construí minha carreira escrevendo sobre esse tema. Porém nunca escrevi muito sobre guerra ‒ principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial ou, para ser mais específico, sobre poder aéreo militar. Só uma coisinha ou outra, aqui e ali. Por quê? Não sei. Imagino que um freudiano se divertiria com essa pergunta. Mas talvez a resposta mais simples seja que quanto mais um assunto importa para você, mais difícil é encontrar uma história sobre ele para contar. Você fica mais exigente. E, assim, chegamos ao livro que você está lendo agora, A Máfia dos Bombardeiros. É uma alegria anunciar que encontrei uma história digna da minha obsessão.
Uma última coisa ‒ sobre o uso dessa última palavra, obsessão. Este livro foi escrito para saciar minhas obsessões, mas também é uma história sobre as obsessões de outras pessoas, sobre uma das maiores obsessões do século XX. Eu sei, levando em conta os temas sobre os quais escrevi ou que explorei ao longo dos anos, que sempre volto aos obsessivos. Gosto deles. Gosto da ideia de alguém ser capaz de ignorar todos os detalhes e as preocupações do cotidiano para simplesmente se concentrar em uma única coisa ‒ aquilo que se encaixa nos limites da sua imaginação. Às vezes, obsessivos nos guiam por caminhos errados. Eles não conseguem enxergar o quadro mais amplo. Só conseguem servir aos seus próprios interesses limitados. Mas acredito que o progresso, a inovação, a alegria e a beleza não existiriam sem os obsessivos.
Quando estava apurando as informações deste livro, jantei com o homem que, na época, era o chefe do Estado-Maior da Força Aérea americana, David Goldfein. O evento aconteceu na Air House, dentro da base Myer-Henderson Hall, no norte da Virgínia, bem na frente de Washington, que fica do outro lado do rio Potomac ‒ uma grandiosa casa em estilo vitoriano, em uma rua cheia de grandiosas casas em estilo vitoriano onde mora boa parte do alto-comando militar do país. Depois do jantar, o general Goldfein convidou um grupo de amigos e colegas de trabalho ‒ outros oficiais importantes da Força Aérea ‒ para se juntar a nós. Fomos nos sentar no quintal do general, somando cinco pessoas no total. Quase todos tinham sido pilotos militares. Os pais de vários deles tinham sido pilotos militares. Eles eram o equivalente contemporâneo das pessoas sobre as quais você vai ler neste livro. À medida que a noite avançava, comecei a notar uma coisa.
A Air House fica na mesma rua que o aeroporto nacional Ronald Reagan. E mais ou menos a cada 10 minutos, um avião decolava e passava sobre nós. Eles não eram dos mais sofisticados: apenas aeronaves comerciais de passageiros, indo para Chicago, Tampa ou Charlotte. E toda vez que um desses aviões passava lá no alto, o general e seus colegas olhavam para cima, só para dar uma espiadinha. Eles não conseguiam evitar. Obsessivos. Meu tipo de gente.

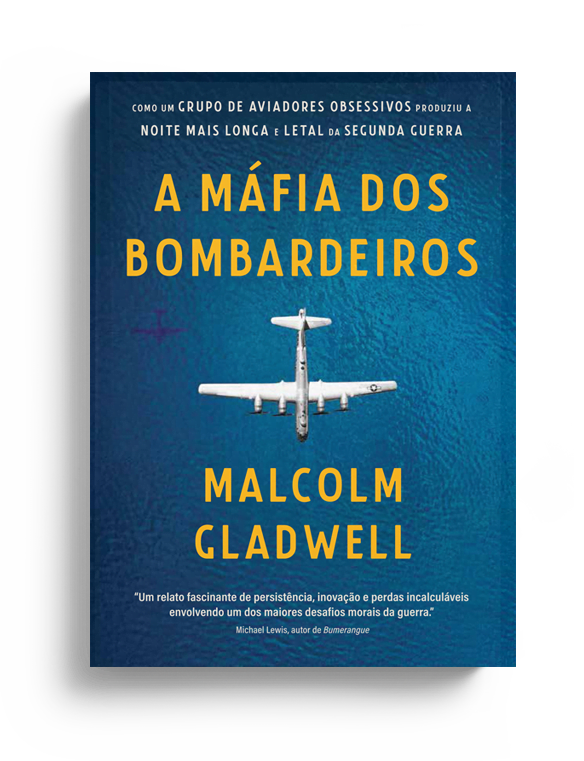
 LEIA MAIS
LEIA MAIS