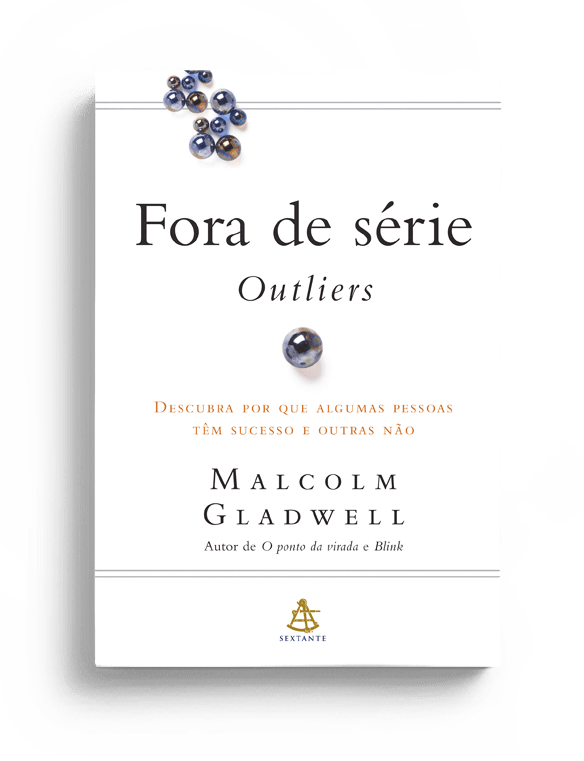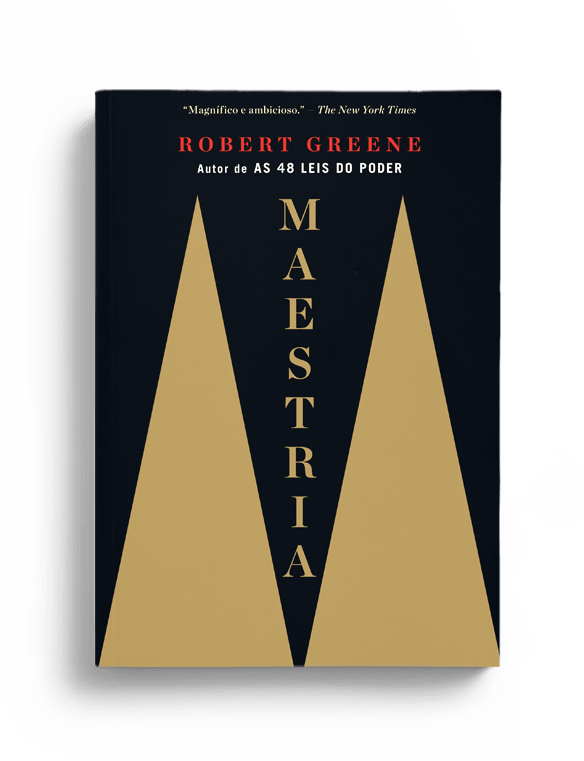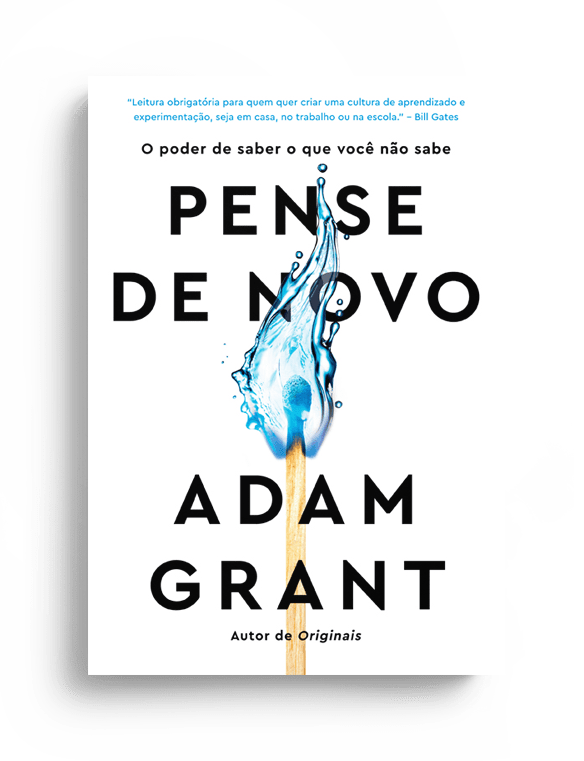PREFÁCIO DA AUTORA
Este livro foi elaborado a partir da sabedoria de dezenas de pessoas criativas que durante 30 anos se dedicaram à modelagem e ao ensino de sistemas. Em sua maioria, foram influenciadas pelo grupo de Dinâmica de Sistemas do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), cujo fundador e principal expoente é Jay Forrester. Meus “professores particulares” (e alunos que se tornaram meus professores) foram, além de Jay, Ed Roberts, Jack Pugh, Dennis Meadows, Hartmut Bossel, Barry Richmond, Peter Senge, John Sterman e Peter Allen. Mas também me baseei em ideias, exemplos, citações, livros e no conhecimento de uma grande comunidade intelectual. Assim, expresso admiração e gratidão a todos os seus integrantes.
Também me baseei em pensadores de uma série de disciplinas que, até onde sei, jamais usaram um computador para simular um sistema, mas que são pensadores de sistemas por natureza. Entre eles estão Gregory Bateson, Kenneth Boulding, Herman Daly, Albert Einstein, Garrett Hardin, Václav Havel, Lewis Mumford, Gunnar Myrdal, E.F. Schumacher e diversos executivos modernos, além de fontes anônimas de sabedoria antiga, como os nativos americanos e os sufis do Oriente Médio. Estranhos companheiros, mas o pensamento sistêmico transcende disciplinas e culturas e, quando bem-feito, abrange também a história.
Tendo falado de transcendência, devo reconhecer também o faccionalismo. Os analistas de sistemas usam conceitos abrangentes, mas têm personalidades inteiramente diversas, o que significa que formaram diferentes escolas de pensamento sistêmico. Usei aqui a linguagem e os símbolos da dinâmica de sistemas que me foram ensinados. E apresento apenas o núcleo da teoria dos sistemas, não a vanguarda. Não incluí abordagens mais abstratas e só me interesso pela análise nos casos em que ela ajuda a resolver problemas reais. Quando a parte abstrata da teoria dos sistemas fizer isso, o que, acredito, acontecerá algum dia, outro livro terá de ser escrito.
Assim, deixo a advertência de que este livro, como todos os que existem, é tendencioso e incompleto. Há muito, muito mais no pensamento sistêmico do que é apresentado aqui – e você vai descobrir caso se interesse. Um dos meus propósitos é despertar o seu interesse. Outro, o principal, é proporcionar uma capacidade básica de entender e lidar com sistemas complexos, ainda que seu treinamento formal no tema comece e termine com este livro.
– Donella Meadows, 1993
PREFÁCIO DA EDITORA
Em 1993, Donella (Dana) Meadows concluiu o rascunho do livro que você tem em mãos agora. O manuscrito não foi publicado na época, mas circulou informalmente durante anos. Dana morreu de repente em 2001 – antes de terminar o livro. Nos anos transcorridos desde sua morte, ficou claro que seus escritos se mantiveram úteis para uma ampla gama de leitores. Dana era cientista e escritora, e uma das melhores comunicadoras no mundo da modelagem de sistemas.
Dana foi a principal autora de Limites do crescimento, publicado em 1972 – um best-seller bastante traduzido. As advertências que ela e seus coautores fizeram na época são reconhecidas hoje como as mais precisas a respeito de como padrões insustentáveis poderiam provocar estragos no planeta caso não fossem controlados. O livro ganhou manchetes em todo o mundo ao alertar que o contínuo crescimento da população e do consumo poderia causar graves danos aos ecossistemas e aos sistemas sociais que sustentam a vida na Terra. Também destacou que um crescimento econômico ilimitado poderia acabar perturbando muitos sistemas locais, regionais e globais. As conclusões deste livro e suas atualizações estão, uma vez mais, ocupando as primeiras páginas dos noticiários à medida que nos aproximamos do pico da produção de petróleo, enfrentamos os efeitos das mudanças climáticas e observamos um mundo de quase 8 bilhões de pessoas lidar com as devastadoras consequências do crescimento físico.
De modo a corrigir nosso curso, Dana colaborou na divulgação do conceito de que precisamos fazer uma grande mudança na forma como vemos o mundo e seus sistemas. O pensamento sistêmico constitui uma poderosa ferramenta para enfrentar os muitos desafios ambientais, políticos, sociais e econômicos que nos esperam. Sistemas, grandes ou pequenos, podem se comportar de modos semelhantes, e entendê-los talvez seja nossa melhor chance de operar mudanças duradouras em diversos níveis. Dana vinha trabalhando no manuscrito deste livro com o objetivo de levar esse conceito a um público mais amplo. Para que seu trabalho não se perdesse, eu e meus colegas do Instituto de Sustentabilidade decidimos publicá-lo postumamente.
Será que mais um livro poderia ajudar você, leitor, e o mundo? Acredito que sim. Talvez você trabalhe em alguma empresa (ou, quem sabe, seja o dono) e queira saber como sua organização pode contribuir para a construção de um mundo melhor. Ou talvez você seja um formulador de políticas e esteja enfrentando pessoas que não aceitam suas boas ideias e intenções. Talvez você seja um gestor que empreendeu grandes esforços para resolver problemas importantes de sua empresa ou comunidade, apenas para encontrar outros desafios pela frente. Ao defender mudanças no funcionamento de uma sociedade (ou de uma família), nas coisas que ela valoriza e protege, é possível perder anos de progresso esbarrando em reações bruscas. Como cidadão de uma sociedade cada vez mais global, você talvez esteja frustrado com as dificuldades que encontra para fazer uma diferença positiva e duradoura.
Nesse caso, acho que este livro pode ajudá-lo. Embora seja possível encontrar dezenas de trabalhos sobre modelagem de sistemas e pensamento sistêmico, ainda se faz necessário um livro acessível e inspirador a respeito de sistemas e pessoas – até porque às vezes os sistemas nos parecem desconcertantes e, a partir de uma abordagem assim, será mais fácil reestruturá-los e gerenciá-los.
Na época em que começou a escrever Pensando em sistemas, Dana concluíra uma atualização de Limites do crescimento, intitulada Beyond the Limits (Além dos limites). Era bolsista da ONG Pew Charitable Trusts, na área de conservação e meio ambiente, trabalhava no Comitê de Pesquisas e Explorações da National Geographic Society e lecionava sistemas, meio ambiente e ética na Universidade Dartmouth. Em todos os aspectos de seu trabalho, ela sempre se envolvia nos eventos da época. Compreendia que tais eventos eram o comportamento superficial de sistemas complexos.
Embora o texto original de Dana tenha sido editado e reestruturado, muitos dos exemplos que você encontrará aqui são de seu primeiro manuscrito, de 1993. Podem parecer um tanto datados, mas continuam tão relevantes quanto eram à época. A década de 1990 começou com grandes mudanças no mundo. Nelson Mandela foi libertado da prisão, fato que ensejou a revogação das leis do apartheid na África do Sul. A Lituânia deu o pontapé inicial para a dissolução da União Soviética. O exército iraquiano invadiu e anexou o Kuwait, sendo depois obrigado a recuar, não sem antes destruir diversas instalações petrolíferas. O Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas publicou seu primeiro relatório, concluindo que “as emissões de gases de efeito estufa provocadas pela atividade humana estão aumentando substancialmente, o que elevará seu acúmulo na atmosfera e provocará um aquecimento adicional na superfície terrestre”. O líder trabalhista Lech Walesa foi eleito presidente da Polônia. Em junho de 1992, a ONU realizou uma conferência no Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento. Em dezembro de 1993, o dramaturgo Václav Havel foi eleito presidente da Tchecoslováquia. E, em 1994, foi assinado o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês).
Durante esse período, enquanto viajava para reuniões e conferências, Dana lia o International Herald Tribune, no qual, em apenas uma semana, encontrou diversos exemplos de sistemas carentes de melhor gerenciamento ou de reformulação completa. Se esses exemplos estavam no jornal, é porque tais sistemas estão à nossa volta todos os dias. Tão logo você comece a enxergar os eventos da época como parte de tendências, e tendências como reflexos da estrutura do sistema subjacente, verá novas formas de existência e novos métodos de gerenciamento em um mundo de sistemas complexos. Ao publicar o manuscrito de Dana, espero aumentar a capacidade dos leitores de entender os sistemas que os cercam e agir em prol de mudanças positivas.
Espero que esta pequena e acessível introdução aos sistemas e ao nosso modo de encará-los seja uma ferramenta útil num mundo que precisa modificar com rapidez certos comportamentos decorrentes de sistemas complexos. Trata-se de um livro simples para um mundo complexo. Um livro para quem quer moldar um futuro melhor.
– Diana Wright, 2008
Se uma fábrica é demolida, mas a racionalidade que a produziu é deixada em pé, essa racionalidade produzirá outra fábrica. Se uma revolução destrói um governo, mas os padrões sistemáticos de pensamento que o produziram são preservados, esses padrões se repetirão (…) Há muita conversa sobre o sistema. E muito pouco entendimento.
– Robert Pirsig,
Zen e a arte da manutenção de motocicletas
INTRODUÇÃO
A lente do sistema
Gestores não são confrontados com problemas independentes uns dos outros, mas com situações dinâmicas oriundas de sistemas complexos em que problemas mutáveis interagem entre si.
Chamo isso de bagunça (…) Gestores não resolvem problemas, gerenciam bagunças.
– Russell Ackoff, teórico de operações
No início do meu curso sobre sistemas, levo muitas vezes uma mola maluca. Caso você não saiba, a mola maluca é um brinquedo – uma mola longa e frouxa que pode se deslocar para cima e para baixo, de um lado para outro, de mão em mão ou mesmo descer uma escada sozinha.
Eu ponho a mola maluca na palma da minha mão. Com os dedos da outra mão, seguro a mola por cima e retiro a mão de baixo. A extremidade inferior desce e volta para cima de novo como se fosse um ioiô.
– O que faz a mola maluca subir e descer assim? – pergunto então aos alunos.
– Sua mão. Você retirou sua mão – dizem eles.
Pego então a caixa que continha a mola maluca, posiciono-a na palma da mão e a seguro por cima, como fiz antes. Depois, com o máximo de floreios dramáticos que consigo produzir, retiro a mão de baixo.
Nada acontece. A caixa fica no mesmo lugar, é claro.
– Vou perguntar mais uma vez. O que fez a mola maluca subir e descer?
A resposta está na própria mola maluca. As mãos que a manipulam apenas suprimem ou liberam um comportamento latente na estrutura do brinquedo.
É uma compreensão fundamental para a teoria dos sistemas.
Quando enxergamos a relação que existe entre estrutura e comportamento, começamos a perceber como os sistemas funcionam, o que os faz produzir resultados ruins e como incutir neles melhores padrões de comportamento. Em um mundo que muda com rapidez estonteante e se torna cada vez mais complexo, o pensamento sistêmico nos ajudará a enxergar, gerenciar e adaptar a ampla gama de escolhas que temos diante de nós. Essa forma de pensar nos dá liberdade para identificar as causas dos problemas e descobrir novas oportunidades.
Mas o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de coisas – pessoas, células, moléculas, o que seja – interconectadas de tal forma que ao longo do tempo produzem um padrão de comportamento. Um sistema pode ser comprimido, deformado, acionado ou dirigido por forças externas. Mas sua resposta a essas forças é característica dele mesmo, e raramente é simples no mundo real.
Quando se trata de molas malucas, esse conceito é fácil de entender. Mas quando se trata de indivíduos, empresas, cidades ou economias, pode ser herético. O sistema, em grande medida, gera seu próprio comportamento. Um evento externo pode desencadear esse comportamento, mas o mesmo evento externo aplicado a um sistema diferente terá um resultado diferente.
Pense por um momento sobre as implicações das seguintes ideias:
- Líderes políticos não provocam recessões nem booms econômicos. Altos e baixos são inerentes à estrutura da economia de mercado.
- Competidores raras vezes fazem uma empresa perder participação no mercado. Eles estão no mercado para obter vantagens, mas a empresa perdedora cria as próprias perdas, pelo menos em parte, por conta de suas políticas comerciais.
- Países exportadores de petróleo não são os únicos responsáveis por aumentos no preço do petróleo. Suas ações por si sós não desencadeariam aumentos de preço globais e caos econômico se o consumo de petróleo, os preços e as políticas de investimento das nações importadoras não tivessem construído economias vulneráveis a interrupções no fornecimento.
- O vírus da gripe não ataca você. Você é quem cria condições para que ele prolifere em seu corpo.
- O vício em drogas não é uma falha do indivíduo. Nenhuma pessoa, por mais rígida ou amorosa que seja, pode curar um viciado em drogas – nem mesmo o próprio viciado. É somente compreendendo o vício como parte de um conjunto maior de influências e questões sociais que se pode começar a enfrentá-lo.
Há algo de profundamente inquietante em declarações como essas. E algo do mais puro bom senso. Sugiro então que ambas as coisas – tanto a resistência quanto o reconhecimento dos princípios sistêmicos – têm origem em dois tipos de experiência humana, ambos familiares a todos.
Por um lado, fomos ensinados a efetuar análises, a usar a capacidade racional, a traçar caminhos diretos entre causa e efeito, a dividir as coisas em partes pequenas e compreensíveis, a resolver problemas agindo ou controlando o mundo ao nosso redor. Esse treinamento, fonte de muito poder pessoal e social, nos leva a ver presidentes, competidores, a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), gripes e drogas como fontes de nossos problemas.
Por outro lado, muito antes de sermos educados em análise racional, todos lidávamos com sistemas complexos. Nós mesmos somos sistemas complexos – nossos corpos são exemplos magníficos de complexidade integrada, interconectada e autossustentável. Cada pessoa que encontramos, cada organização, cada animal, jardim, árvore e floresta é um sistema complexo. Intuitivamente, sem qualquer análise e às vezes sem palavras, formamos uma compreensão prática de como esses sistemas funcionam e de como lidar com eles.
A teoria dos sistemas moderna, ligada a computadores e equações, esconde o fato de que trafega em verdades conhecidas por todos. Assim, muitas vezes é possível traduzir um jargão sistêmico para a sabedoria tradicional:
Em sistemas complexos, por conta de atrasos nos feedbacks, um problema pode se tornar desnecessariamente difícil de resolver no momento em que se torna aparente.
– É melhor prevenir que remediar.
De acordo com o princípio de exclusão competitiva, se um ciclo de feedback recompensa o vencedor de uma competição com os meios para vencer outras competições, o resultado será a eliminação de quase todos os competidores.
– “A quem tiver, mais lhe será dado; de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado.” (Marcos 4:25) Ou ainda:
– O rio só corre para o mar.
Um sistema diversificado, com múltiplos caminhos e redundâncias, é mais estável e menos vulnerável a choques externos que um sistema uniforme com pouca diversidade.
– Não coloque todos os ovos na mesma cesta.
Desde a Revolução Industrial, a sociedade ocidental vem utilizando a ciência, a lógica e o reducionismo em vez da intuição e do holismo. Psicológica e politicamente, preferimos presumir que a causa de um problema está “por aí” em vez de “bem aqui”. É quase irresistível o impulso de culpar algo ou alguém, de transferir responsabilidades para outros e procurar o botão de controle, o produto, a pílula ou a correção técnica que fará um problema desaparecer.
Problemas sérios foram resolvidos recorrendo-se a agentes externos – a prevenção da varíola, o aumento da produção de alimentos, o rápido transporte de grandes pesos e muitas pessoas por longas distâncias. No entanto, como estavam embutidas em sistemas maiores, algumas “soluções” criaram novos problemas. E alguns deles, os mais enraizados na estrutura interna de sistemas complexos, as autênticas bagunças, recusaram-se a desaparecer.
Problemas como fome, pobreza, degradação ambiental, instabilidade econômica, desemprego, doenças crônicas, vício em drogas e guerras permanecem, apesar da capacidade analítica e da excelência técnica direcionadas para erradicá-los. Ninguém os cria de modo deliberado, ninguém quer que persistam, mas eles se mantêm mesmo assim. Isso porque são problemas intrinsecamente sistêmicos – comportamentos indesejáveis característicos das estruturas dos sistemas que os produzem. Só recuarão quando recuperarmos a intuição, pararmos de atribuir culpas e virmos o sistema como a fonte de seus próprios males. Assim poderemos encontrar coragem e sabedoria para reestruturá-lo.
É algo óbvio. Embora subversivo. Uma antiga forma de efetuar análises. Porém, de certo modo, nova. Confortável, pois as soluções estão em nossas mãos, mas também incômoda, pois teremos que fazer coisas, ou pelo menos enxergar as coisas e pensar sobre elas de forma diferente.
Este livro é sobre essa maneira diferente de ver e de pensar. E se destina a pessoas que podem se intimidar com a palavra “sistemas” e com a ciência da análise de sistemas, ainda que tenham usado sistemas desde sempre. Mantive a discussão em um nível não técnico, pois quero mostrar que você pode chegar à compreensão dos sistemas sem recorrer à matemática, nem mesmo aos computadores.
Como é um tanto difícil discutir sistemas apenas com palavras, usei com liberalidade diagramas e gráficos de tempo. Palavras e frases devem obedecer a uma ordem linear e lógica. Já os sistemas ocorrem de uma vez só e não estão conectados em uma única direção, mas em muitas direções simultaneamente. Para discuti-los de modo adequado, é preciso usar uma linguagem que compartilhe algumas propriedades com os fenômenos em discussão.
As imagens funcionam melhor que as palavras para esse tipo de linguagem, pois vemos todas as partes de uma imagem de uma vez só. Construirei imagens de sistemas gradualmente, começando com as mais simples. Acho que você descobrirá que consegue entender com facilidade essa linguagem gráfica.
Começarei pelo conceito básico: a definição de um sistema e a dissecação de suas partes (de forma reducionista, não holística). Depois remontarei as partes para demonstrar como elas se interconectam de modo a formar a unidade operacional básica de um sistema: o ciclo de feedback.
Em seguida, apresentarei um zoológico de sistemas – uma coleção de tipos de sistemas comuns e interessantes. Você verá como algumas dessas criaturas se comportam e por que e onde podem ser encontradas. Você as reconhecerá, pois estão ao seu redor e até mesmo dentro de você.
Tendo como base alguns dos “animais” do zoológico – um conjunto de exemplos específicos –, darei um passo para trás e falarei sobre como e por que os sistemas funcionam tão bem mas nos surpreendem (e confundem) com tanta frequência. Explicarei por que tudo em um sistema pode funcionar com zelo e racionalidade mas com um resultado terrível. E por que as coisas costumam acontecer muito mais rápido ou muito mais devagar do que todos esperam. E por que você pode fazer algo que sempre funcionou e de repente descobrir, para sua decepção, que o método não funciona mais. E por que um sistema pode, de repente, comportar-se de um jeito que você nunca viu antes.
Essa discussão nos levará a examinar os problemas comuns com os quais os praticantes do pensamento sistêmico deparam repetidamente ao analisar corporações, governos, economias, ecossistemas, estruturas fisiológicas e psicológicas. “Mais um caso de tragédia dos comuns”, costumamos dizer, ao examinarmos um sistema de alocação de recursos hídricos para comunidades ou de recursos financeiros para escolas; identificamos “metas declinantes” ao estudarmos regulamentações para negócios e incentivos que podem ajudar ou dificultar o desenvolvimento de novas tecnologias; encontramos “resistência política” ao examinarmos poderes decisórios e a natureza dos relacionamentos em uma família, comunidade ou nação; assim como testemunhamos “vícios” – que podem ser provocados por outros agentes, além de cafeína, álcool, nicotina e narcóticos.
Essas estruturas comuns, que produzem comportamentos característicos, são chamadas de “arquétipos” pelos pensadores de sistemas. Quando planejei este livro pela primeira vez, chamei-as de “armadilhas do sistema”. Depois acrescentei “e oportunidades”, pois os arquétipos responsáveis por alguns dos problemas mais renitentes e com potencial perigoso podem também ser direcionados, com um pouco de compreensão sistêmica, para comportamentos muito mais desejáveis.
A partir desse entendimento, falarei sobre o que você e eu podemos fazer para reestruturar os sistemas em que vivemos. E sobre como procurar pontos de apoio para mudanças.
Concluo com as maiores lições de todas, provenientes da sabedoria compartilhada pela maioria dos pensadores sistêmicos que conheço. Para aqueles que quiserem explorar mais o pensamento sistêmico, o Apêndice oferece um glossário, uma bibliografia de recursos, uma lista resumida de princípios dos sistemas e as equações para os modelos descritos na Parte 1.
Quando nosso pequeno grupo de pesquisadores se mudou do MIT para a Universidade Dartmouth, anos atrás, um dos professores de engenharia da Dartmouth assistiu a nossos seminários e depois foi nos procurar em nossa sala. “Vocês são diferentes”, disse ele. “Fazem tipos diferentes de perguntas. Veem coisas que eu não vejo. De certa forma, encaram o mundo de modo diferente. Como? Por quê?”
É o que espero transmitir ao longo deste livro e, em especial, na conclusão. Não acho que a visão sistêmica seja melhor que a reducionista. É complementar e, portanto, reveladora. Algumas coisas podem ser vistas pelas lentes do olho humano, outras pelas lentes de um microscópio, algumas pelas lentes de um telescópio e algumas outras, ainda, pelas lentes da teoria dos sistemas. Tudo o que é visto através de cada tipo de lente existe de fato. E cada modo de ver permite que os conhecimentos do mundo em que vivemos se tornem um pouco mais completos.
Numa época em que o mundo está mais confuso, mais populoso, mais interconectado, mais interdependente e mais inconstante que nunca, quanto mais formas de enxergá-lo houver, melhor. A lente do pensamento sistêmico nos permite recuperar a intuição sobre sistemas inteiros e
- aprimorar nossas habilidades para entender partes;
- enxergar interconexões;
- fazer perguntas “e se” sobre possíveis comportamentos futuros; e
- ser criativos e corajosos na reestruturação do sistema.
Desse modo, poderemos usar essa percepção para fazer a diferença no mundo.

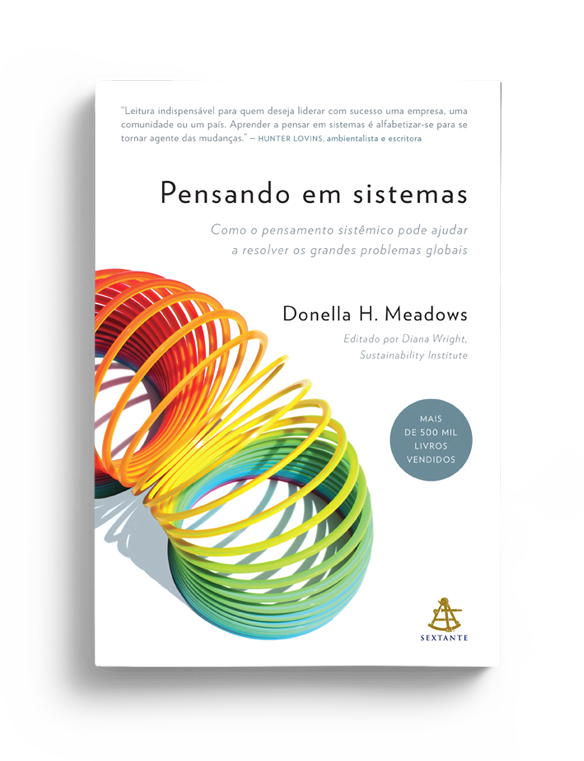

 LEIA MAIS
LEIA MAIS