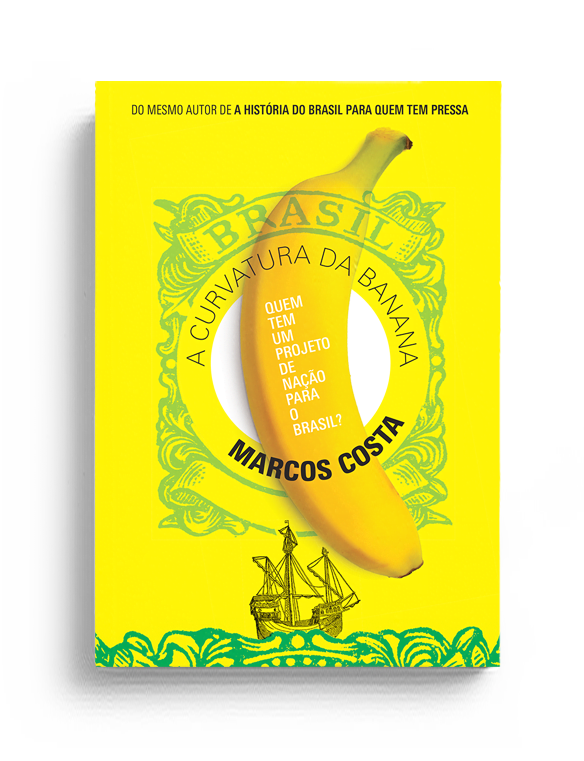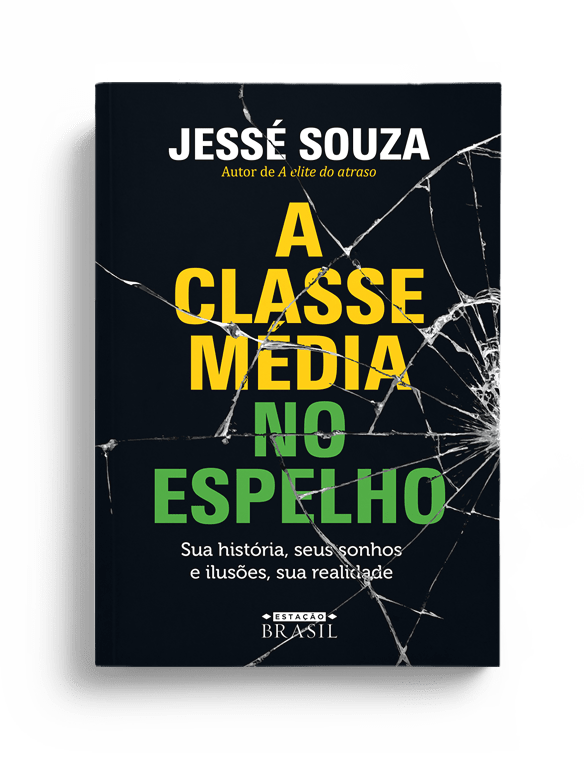Introdução
“Simplicidade é complexidade resolvida”, disse Constantin Brancusi, o grande escultor romeno, nascido em Hobita, em 1876, e morto em Paris, em 1957. Peggy Guggenheim o descreve como “um homenzinho maravilhoso, com a barba branca, os olhos escuros e penetrantes, algo entre um camponês e uma verdadeira divindade”. Sua vida, como a sua obra, é um itinerário que vai da complexidade à simplicidade, das primeiras esculturas, completamente figurativas, até Pássaro no espaço (Bird in Space), com o qual – segundo suas próprias palavras – atinge “a felicidade da alma, liberta da matéria”.
A primeira das 16 variações do Pássaro no espaço foi esculpida em 1923. Três anos depois, por intermédio do amigo Marcel Duchamp, foi exposta na Brummer Gallery de Nova York. Naquele tempo, a lei americana previa isenção de impostos a obras de arte, mas, quando Brancusi desembarcou do navio Paris, um funcionário da alfândega classificou a escultura como um simples utensílio de cozinha, destinado ao comércio, aplicando a taxação do equivalente a 2.400 dólares hoje. Isso originou um processo que durou dois anos, no qual houve nada menos que seis testemunhas a favor de Brancusi, entre as quais o editor da Vanity Fair e o diretor do Museu do Brooklyn, que asseguraram que se tratava de uma obra de arte representando um pássaro alçando voo, enquanto a parte contrária insistia em ver naquele objeto muito abstrato nada mais, nada menos que um simplório utensílio de cozinha. Para sorte de Brancusi, a sentença – a seu favor – determinou: “O objeto em questão… é belo e de perfil simétrico e, mesmo sendo um pouco difícil associá-lo a um pássaro, é, ainda assim, agradável aos olhos e muito decorativo, além disso está evidente que se trata de uma produção original de um escultor profissional… Acolhemos a reclamação e aplicamos ao objeto a classificação de duty-free.”
Atualmente, a escultura está avaliada em 27,5 milhões de dólares e, também graças a essa cotação, ninguém se arriscaria a considerá-la um utensílio de cozinha, mesmo porque hoje não é apenas o valor intrínseco de alguma coisa que determina o seu preço, mas, com frequência, é o preço que lhe atribui valor.
Pouco depois de Brancusi ter chegado a Paris, Auguste Rodin, intuindo que se tratava de um gênio, ofereceu-lhe a função de assistente. Apesar de considerar Rodin um grande mestre e inspirador, Brancusi declinou, dizendo que “à sombra de um grande carvalho não crescem outras árvores”. Para atingir a máxima, sublime, pujante simplicidade do Pássaro no espaço e alcançar, escultura após escultura, a síntese suprema, Brancusi dedicou anos de intenso e paciente trabalho à busca do essencial atingível por redução. Não se tratava de criar uma obra abstrata, mas uma obra simples, como definiu o próprio escultor: “Há idiotas que definem os meus trabalhos como abstratos; mas o que eles chamam de abstrato é, na verdade, o que mais tem de realístico. O que é real não é a aparência, mas a ideia, a essência das coisas.” Brancusi conseguia simplificar as coisas de tal maneira, reduzindo-as à sua essência, que até mesmo os juízes da Terceira Divisão do Tribunal de Alfândega dos Estados Unidos viram um pássaro – exatamente um pássaro – no Pássaro no espaço.
Quem transforma uma realidade complexa em simples, além de ser um gênio, é um benfeitor da humanidade. É um revolucionário. Quem complica uma realidade simples, tornando-a complexa, imprime à realidade a marca de sua personalidade complicada. Quando Sciascia publicou Candido in Sicilia, ocorreu-me comentar com Moravia sobre como me sentia feliz de que a Itália tivesse encontrado em Sciascia o seu Voltaire. E Moravia, com a agudez impiedosa que o distinguia, disse: “As coisas não são assim. Enquanto Voltaire pegava uma situação complexa e simplificava, Sciascia pega uma situação simples e a torna complexa.”
Exatamente por isso, Sciascia, mais do que Voltaire e Brancusi, pode ser considerado um símbolo da sociedade pós-industrial, que se põe à nossa frente com todo o seu potencial técnico-social: uma complexidade que resiste à simplificação e por isso nos sublima, nos desorienta e deprime.
Mas temos mesmo certeza de que a sociedade atual é mais complexa que todas que a precederam? E temos certeza de que, depois de tantas análises, não é possível simplificar a sua complexa constituição? Sempre acreditei que o dever do sociólogo era analisar a fundo o sistema social, colher as suas contradições, os choques, as distorções e forçá-lo a se revelar na essencialidade, que é simples por natureza e, por isso, pode ser comunicada aos outros, ensinada aos alunos, discutida com os amigos, tratada com arte e, até mesmo, melhorada. Só assim o sociólogo pode conduzir uma revolução sua, simples e simplificadora.
A necessidade de compreender e simplificar está na base de todo o conhecimento humano, de toda a busca científica e artística. Está na base da nossa vida. Eloquentes exemplos alcançados por meio dessa operação intelectual – com os quais uma realidade complexa ao extremo é transformada em uma descrição surpreendentemente simples e elegante – são a prova da relatividade elaborada por Einstein, da estrutura do DNA desenhada por Francis Crick e James D. Watson, da síntese do conceito de alienação contida nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, de Karl Marx.
Este livro nasce a convite do editor, que me pediu que abrisse mão, por um momento, da deformação profissional e do estilo acadêmico expositivo para apresentar minhas ideias sociológicas de modo simples, como uma serena reflexão entre amigos.
As novas sociedades não nascem já completas, todas de uma vez. Transcorreram décadas antes que Marx e Weber conseguissem abraçar por completo a novidade industrial. E ainda serão necessárias décadas para compreender e simplificar nossa sociedade pós-industrial apenas em seus primórdios. Por ora – à espera de sociólogos geniais – devemos nos contentar com simples acupunturas no tecido complexo do presente e com rápidas incursões na nebulosa incerteza do futuro.
A rigor, este livro é a reportagem de algumas das minhas acupunturas e incursões e limita-se a conjecturas sintéticas sobre a sociedade pós-industrial, o futuro, a tecnologia, o trabalho, o ócio, a criatividade, o crescimento, o decrescimento, a política, a estética e alguns comportamentos e atitudes. O futuro de que falo é um futuro simples, um futuro mínimo, tanto por extensão quanto por aprofundamento, explorado sem qualquer pretensão de uma completude sistemática, e as reflexões dedicadas a ele já foram, em parte, antecipadas em artigos, conferências e livros – transferidas para esta nova vestimenta –, retocadas e postas em certa ordem lógica, mas também legíveis desordenadamente. O objetivo, como eu disse, é oferecer em linguagem simples algumas ideias sobre a sociedade pós-industrial e uma provável evolução dela. Os dados estatísticos dos quais me servi para apoiar os vários raciocínios estão – como todos os dados estatísticos – destinados a uma rápida obsolescência. Conservam, não obstante, o seu valor como indicadores de tendências.
Agradeço a Ottavio Di Brizzi e Alessia Dimitri, da editora Rizzoli, pelo profissionalismo e afeto com que me ajudaram neste trabalho. A Paola Mazzucchelli, minha gratidão pela edição impecável, e a Elisabetta Fabiani, meu agradecimento pela revisão do original.
Quando os livros – ou qualquer outra obra – são dedicados a alguém, é porque o autor quer saldar, pelo menos em parte, o seu débito de reconhecimento. Por pouco que possa valer, também eu dediquei meu penúltimo livro, Mappa Mundi, aos emigrados do meu Sul, que, desde sempre, tentam a sorte em terras distantes, e dediquei meu último livro, TAG, ao prêmio Nobel chinês Liu Xiaobo e a sua esposa Liu Xia – ela, mantida em um manicômio pelo governo chinês, e ele, em um cárcere sem papel e caneta, para impedi-lo de escrever poesias.
Serge Latouche identificou um dos sintomas extremos da nossa crise social no fato de que, de um tempo para cá, crianças também se têm suicidado. Mas, a meu ver, existem casos piores: crianças que se suicidam para matar outras crianças. Nouri, Nasir, Nabil Abu al-Hassan não passam de algumas das muitas usadas como camicases pelos grupos extremistas Boko Haram e Isis, passando pelas fileiras jihadistas do Paquistão, da Somália, da Palestina, do Iêmen. No Paquistão, em 11 de setembro de 2007, um rapaz de 14 anos se autoexplodiu dentro de um ônibus, em Dera Ismail Khan, provocando 18 mortes. Na Nigéria, a nordeste da cidade de Maiduguri, cinco crianças camicases, munidas de cintos e coletes explosivos, foram pelos ares, causando 14 mortes e ferindo cerca de 40 pessoas. Em Maiduguri, no estado de Borno, o Boko Haram usou, como camicase, uma menina de 10 anos, que foi também mandada pelos ares, matando 19 pessoas e ferindo outras 18. Em cada um desses atentados havia crianças entre as vítimas.
Na Argélia, Nabil Belkacemi, um adolescente de 15 anos, treinado por um grupo da Al Qaeda no Magreb, realizou o atentado de Déli, deixando 30 mortos e 56 feridos. Antes de ser recrutado pelos terroristas, Nabil era gentil e estudioso. Alguns dias antes do atentado, telefonou para casa: “Mãe, tenho medo, não sei onde estou. Queria fugir, mas tenho medo que me matem. Disseram que se eu escapar eles se vingarão fazendo algo contra você.”
Dedico este livro a Nabil, que preconiza uma revolução simples e incruenta para todas as crianças usadas como camicases para assassinar outras crianças. Elas representam a extrema inocência, que o mal extremo é capaz de imolar em nome de um Deus que não existe.


 LEIA MAIS
LEIA MAIS