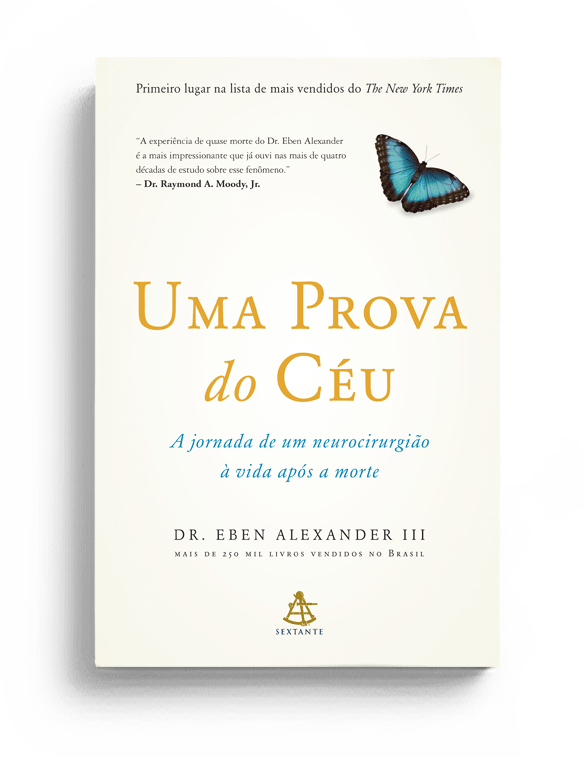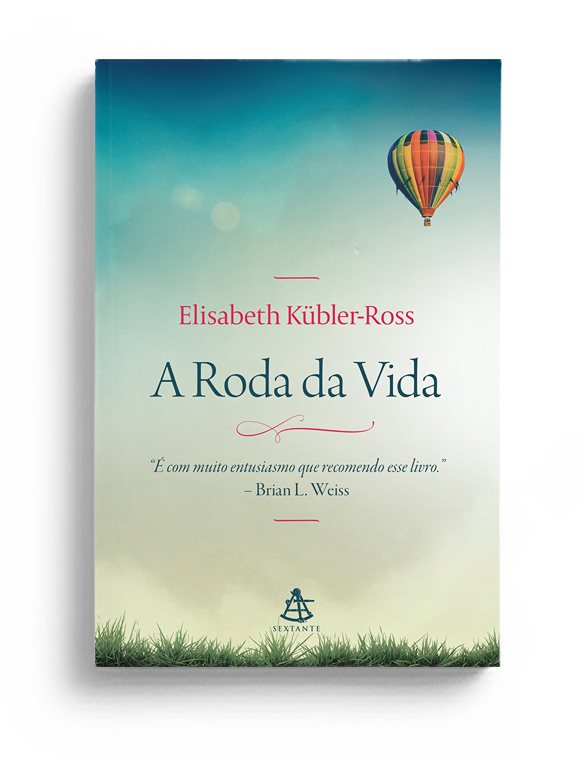Introdução
“Sou filho da terra e do céu estrelado,
mas minha verdadeira raça é celestial.”
– Trecho de um texto da Grécia Antiga dando instruções
às almas dos recém-falecidos sobre
como se orientar na vida após a morte
Imagine o casamento de dois jovens. A cerimônia já acabou e estão todos reunidos nos degraus da igreja para uma foto. Mas, neste momento em particular, o casal não percebe as outras pessoas. Os dois estão concentrados demais um no outro. Ele olha fundo nos olhos dela, ela olha fundo nos olhos dele – as janelas da alma, como disse Shakespeare.
Fundo. Uma palavra curiosa para caracterizar uma ação que, na verdade, sabemos que não tem profundidade nenhuma. A visão é um fenômeno físico. Fótons de luz atingem a retina na face interna do olho, a meros 2,5 centímetros atrás da pupila; a informação que eles trazem é traduzida em impulsos eletroquímicos, que são enviados pelo nervo ótico até o centro de processamento visual na região posterior do cérebro. Trata-se de um processo inteiramente mecânico.
Mas é óbvio que todos sabem do que você está falando quando diz que está olhando fundo nos olhos de uma pessoa. Você está vendo a alma dela – aquela parte do ser humano à qual o filósofo grego Heráclito se referia cerca de 2.500 anos atrás quando escreveu: “Mesmo que viajasse para todo o sempre, você ainda não encontraria os limites da alma, tamanha é a sua profundidade e vastidão.” Seja a profundidade real ou não, quando ficamos frente a frente com ela, é uma visão arrebatadora.
Vemos essa profundidade se manifestar de forma mais intensa em duas ocasiões: quando nos apaixonamos e quando testemunhamos a morte de alguém. A maioria das pessoas já passou pela primeira experiência, mas nem todas passam pela segunda, pois a sociedade mantém a morte o mais longe possível das nossas vidas. Mas quem trabalha em hospitais e asilos sabe do que estou falando. De repente, onde antes havia profundidade resta apenas a superfície. O olhar vivo – mesmo que a pessoa em questão fosse muito velha e seu olhar já estivesse fraco e vacilante – fica vidrado, sem brilho.
Então imagine novamente a noiva e o noivo olhando dentro dos olhos um do outro, perdidos nessa profundeza sem fim. Alguém aperta o botão da câmera. A imagem é capturada. Um registro perfeito de um par perfeito de jovens recém-casados.
Vamos avançar seis décadas. Imagine que o casal tenha tido filhos, e que estes tenham tido seus próprios filhos também. O homem da fotografia está morto, e a mulher vive em uma casa de repouso para idosos. Seus filhos a visitam com frequência e ela tem amigas na clínica, mas às vezes se sente sozinha. Como agora.
É uma tarde chuvosa e a mulher está sentada diante da janela, segurando o porta-retratos que abriga aquela foto do dia do casamento. Sob a luz cinzenta que vem lá de fora, olha para a imagem. A foto, como ela, passou por muitas coisas até chegar ali. Começou a jornada em um álbum de fotografias que depois foi dado para um dos filhos, em seguida emoldurada e levada para a clínica quando a mulher se mudou para lá. Embora frágil, um pouco amarelada e amassada, ela sobreviveu. A mulher vê a jovem que foi um dia, olhando nos olhos do marido, e lembra-se de que naquele instante ele era mais real do que qualquer outra coisa no mundo.
Onde está ele agora? Será que ele ainda existe?
Quando está bem, a mulher sabe que sim. É claro que o homem que ela amou durante todos aqueles anos não poderia simplesmente desaparecer depois de seu corpo ter morrido. Ela sabe o que a religião diz sobre o assunto: seu marido foi para o céu – um céu no qual, graças a anos frequentando a igreja, ela diz acreditar. Embora lá no fundo não tenha muita certeza.
Em dias como hoje, ela tem dúvidas. Pois também sabe o que a ciência diz sobre o assunto. Sim, ela amava o marido. Mas o amor é uma emoção, uma reação eletroquímica que acontece no fundo do cérebro, liberando hormônios no corpo, ditando nossos humores, dizendo-nos para ficar felizes ou tristes, alegres ou desolados.
Em suma, o amor não é real.
O que é real? Bem, isso é óbvio. As moléculas de aço, cromo, alumínio e plástico da cadeira em que ela está sentada; os átomos de carbono que compõem o papel da foto que ela tem em mãos; a madeira e o vidro do porta-retratos que protegem a fotografia. E, é claro, o ouro da aliança de casamento. Tudo isso sem dúvida é real.
Mas, e o laço de amor perfeito, pleno e eterno entre duas almas imortais que aquele anel deveria simbolizar? Bem, isso não passa de romantismo bobo. Matéria sólida e palpável: isso sim é real. É o que diz a ciência.
“Sua verdadeira natureza está dentro de você.”
– Al Ghazali, místico islâmico do século XI
O radical da palavra realidade vem do latim res, que significa “coisa”. As coisas em nossa vida, como pneus de carros, frigideiras, bolas de futebol e balanços de jardim, são reais para nós porque têm uma consistência que se confirma dia após dia. Podemos tocá-las, pesá-las, largá-las e, quando voltamos depois, elas continuam idênticas, exatamente onde as deixamos.
Nós também somos feitos de matéria. Nossos corpos são compostos de elementos como hidrogênio, o mais antigo e simples de todos, e outros mais complexos, como nitrogênio, carbono, ferro e magnésio. Todos esses elementos se formaram sob pressão e calor inconcebíveis, no coração de estrelas antiquíssimas, há muito mortas. Um núcleo de carbono possui seis prótons e seis nêutrons. Das oito posições em sua camada externa, quatro são ocupadas por elétrons e quatro estão vagas, de modo que outros átomos possam se conectar ao de carbono, ligando seus próprios elétrons a essas posições vazias. Essa estrutura específica permite também que átomos de carbono se interliguem a outros átomos de carbono de forma extraordinariamente eficaz. Tanto a química orgânica quanto a bioquímica dedicam-se a estudar de forma exclusiva as interações envolvendo esse elemento. Toda a estrutura química da vida na Terra é baseada nele. Devido às suas características únicas, quando os átomos de carbono são submetidos à alta pressão, unem-se com ainda mais força, perdem sua aparência negra e terrosa e se transformam no mais poderoso exemplo de durabilidade da natureza: o diamante.
Contudo, embora os átomos de carbono e os outros elementos que compõem a maior parte da nossa existência física sejam imortais, nossos corpos são extremamente transitórios. Novas células nascem enquanto as mais velhas morrem. A cada instante absorvemos matéria do mundo que nos rodeia e devolvemos matéria a ele. Em pouco tempo – um piscar de olhos em uma escala cósmica –, nossos corpos voltarão ao início do ciclo. Eles se reunirão ao fluxo de carbono, hidrogênio, oxigênio, cálcio e outras substâncias primárias que se formam e se desintegram interminavelmente aqui na Terra.
Até aí nenhuma novidade. A própria palavra humano vem do mesmo radical que húmus, terra. O mesmo vale para humildade, o que faz todo o sentido, uma vez que a melhor maneira de se manter humilde é ter consciência da sua origem. Muito antes de a ciência explicar os detalhes de como isso acontece, várias culturas ao redor do mundo já sabiam que nascemos da terra e que, depois de mortos, voltamos a ela. Como Deus fala para Adão – Adamah, “terra” em hebraico – no livro do Gênesis: “Tu és pó, e ao pó voltarás.”
No entanto, nunca gostamos muito dessa ideia. Toda a história da humanidade pode ser vista como uma reação a essa aparente materialidade e aos sentimentos de angústia e incompletude gerados por ela.
A ciência moderna – de longe a mais poderosa resposta a essa inquietação milenar a respeito da mortalidade humana – é, em grande parte, uma evolução da técnica ancestral de manipulação de elementos químicos, chamada alquimia. As origens da alquimia se perderam ao longo da história. Há quem diga que ela surgiu na Grécia Antiga. Outros afirmam que os primeiros alquimistas viveram muito antes, talvez no Egito, e que o termo vem da palavra egípcia Al-Kemi, ou “terra negra” – supostamente em referência à terra escura e fértil das margens do Nilo.
Havia alquimistas cristãos, judeus, muçulmanos e taoistas. Estavam por toda parte. Independentemente de onde tenha surgido, a alquimia evoluiu para uma série de práticas complexas, mas a maioria envolvia transformar metais como cobre e chumbo em ouro. O principal objetivo da alquimia, no entanto, era recuperar a imortalidade que seus adeptos acreditavam que a humanidade um dia possuíra, mas perdera.
Muitos métodos usados pela química moderna foram criados pelos alquimistas, que costumavam trabalhar sob riscos consideráveis. Manipular elementos químicos é perigoso; além da ameaça de envenenamento e explosões, os alquimistas ainda precisavam enfrentar a oposição do poder religioso. Assim como a ciência que se originou a partir dela, a alquimia era, nos anos que conduziriam à Revolução Científica na Europa, uma heresia.
Uma das maiores descobertas dos alquimistas durante sua busca pela imortalidade foi que, quando você submete uma substância ao que chamavam de processo de “teste” – se você aquecê-la ou combiná-la a outro elemento com o qual ela reage, por exemplo –, ela se transformará em outra coisa. Como muitas outras dádivas do passado, esse conhecimento soa óbvio agora, mas porque não fomos nós que tivemos o trabalho de descobri-lo.

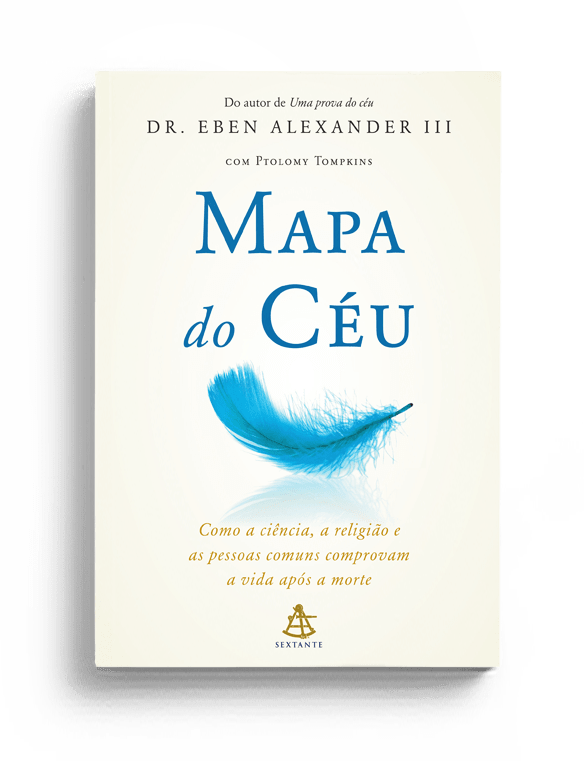
 LEIA MAIS
LEIA MAIS