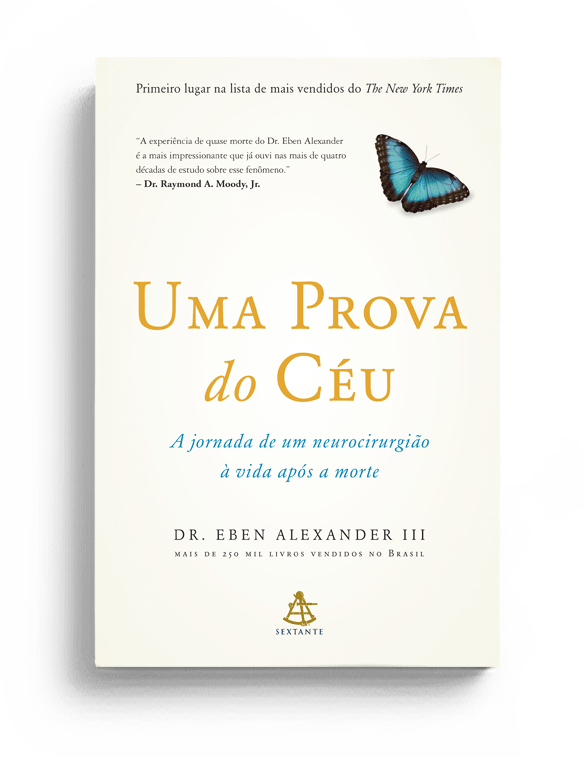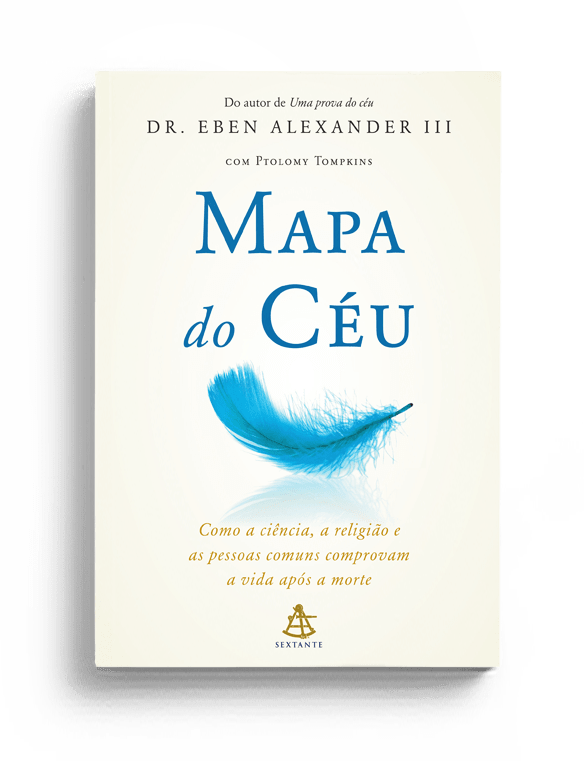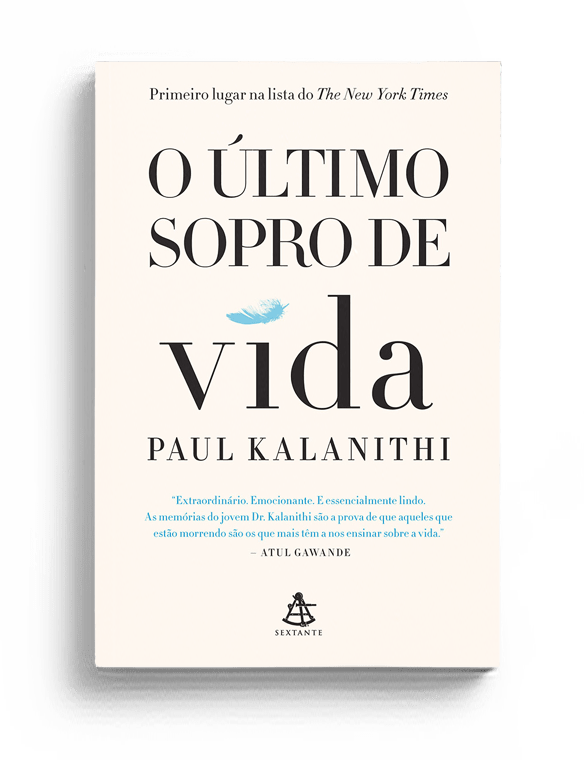Prólogo
“Um homem deve procurar o que existe, não o que ele acha que deveria existir.”
– Albert Einstein (1879-1955)
Quando eu era criança, sempre sonhava que estava voando.
Na maioria dos sonhos, eu estava no quintal à noite, olhando as estrelas, quando, de repente, meu corpo começava a flutuar. Eu subia os primeiros centímetros automaticamente, mas logo percebia que quanto mais alto ia, mais o progresso dependia de mim – do que eu fazia. Se ficasse muito entusiasmado com a experiência, simplesmente desabava no chão. Mas se flutuasse com tranquilidade, tentando manter o equilíbrio, eu ia cada vez mais longe – e mais rápido – em direção ao céu estrelado.
É provável que aqueles devaneios infantis tenham contribuído para, na vida adulta, eu ter me apaixonado por aviões, foguetes e tudo o que pudesse me transportar para um mundo acima deste. Quando viajava com minha família, grudava o rosto na janela do avião desde a decolagem até a aterrissagem. No verão de 1968, aos 14 anos, investi todo o dinheiro que ganhara cortando grama em uma série de aulas de planador, em um minúsculo “aeroporto” a oeste de Winston-Salem, a cidade onde nasci, no estado da Carolina do Norte. Ainda me lembro de como meu coração batia forte quando puxei a alavanca vermelha que desconectava o planador do rebocador pela primeira vez. Naquele momento, eu me senti verdadeiramente sozinho e livre. A maioria dos meus amigos sentia isso em relação a carros, mas eu achava que estar a 300 metros de altura era muito mais emocionante.
Durante a faculdade, na década de 1970, fiz parte da equipe de paraquedismo esportivo da Universidade da Carolina do Norte. Parecia uma sociedade secreta – um grupo de pessoas que detinha os segredos de alguma coisa mágica e especial. Meu primeiro salto livre foi aterrorizante, e o segundo, ainda mais assustador. Mas, por volta do décimo segundo, quando cheguei à porta do avião e tive que mergulhar no espaço antes de abrir o paraquedas, finalmente me senti em casa.
Fiz 365 saltos de paraquedas durante a faculdade e fiquei cerca de 3 horas e meia ao todo em queda livre, quase sempre em formações com até 25 companheiros. Embora tenha parado de saltar em 1976, continuei a ter sonhos muito reais sobre estar voando, e eram sempre muito agradáveis.
Os melhores saltos costumavam ser os do fim da tarde, quando o sol começava a descer no horizonte. Não é fácil descrever a sensação que se tem durante o salto: é como se aproximar de algo que não se pode nomear, mas em que se precisa mergulhar ainda mais fundo. Não era exatamente solidão que eu sentia, porque em geral éramos cinco, seis, até dez ou doze pessoas saltando de uma vez, compondo formações em queda livre. Quanto maior o desafio, melhor.
Em um belo sábado de outono em 1975, a equipe de salto da universidade se reuniu com uns amigos de um centro de paraquedismo para executar algumas formações. No penúltimo salto do dia, a bordo de um Beechcraft D18, a 3.200 metros de altura, fizemos um snowflake (configuração em forma de flocos de neve) com 10 homens. O objetivo de executar o desenho completo antes de atingirmos os 2 mil metros foi cumprido, portanto pudemos ficar 18 segundos aproveitando a formação antes de soltarmos as mãos e nos posicionarmos a uma distância segura um do outro, de modo que pudéssemos abrir os paraquedas. Tudo isso a pouco mais de 1.500 metros do solo.
No momento em que tocamos o chão, o sol já começava a se esconder. Mas corremos para outro avião o mais rápido possível e decolamos de novo. Fizemos mais um salto antes de anoitecer. Dessa vez, dois membros novos estavam tendo sua primeira experiência em salto com formação, e eles deviam se aproximar do grupo em vez de atuar como homem-base (que é mais fácil, já que o homem-base cai em linha reta enquanto os demais precisam manobrar em sua direção). Foi bastante empolgante para eles, mas também para nós, veteranos, pois estávamos formando nossa equipe e proporcionando outras experiências a saltadores que, em breve, seriam capazes de nos acompanhar em formações ainda mais complexas.
Eu era o último na formação de uma estrela composta por seis homens. Estávamos acima da pista de pouso de um pequeno aeroporto nos arredores de Roanoke Rapids. O paraquedista que pularia antes de mim se chamava Chuck e era bastante experiente. Lá de cima, a 2.300 metros de altura, ainda podíamos ver o sol, mas as luzes da cidade já estavam acesas. Saltos ao crepúsculo eram sempre maravilhosos e aquele se encaminhava para ser mais um.
Embora eu tivesse saltado do avião apenas um segundo depois de Chuck, era preciso me mover rápido para me aproximar dos outros. Mergulhei de cabeça e fiquei assim por sete segundos. Isso me fez descer quase a 160km/h mais rápido que meus amigos, de modo que eu poderia estar com eles logo que começassem a montar a formação.
O procedimento normal para finalizar esse tipo de manobra é todos os saltadores se separarem a mil e poucos metros do solo
e ficarem o mais longe possível da formação. Cada um, então, deve sinalizar com os braços (indicando a abertura iminente de seu paraquedas) e olhar para o alto a fim de se certificar de que não há ninguém acima dele, para só então acionar a corda do paraquedas.
Os primeiros quatro saltadores pularam, Chuck e eu mergulhamos logo atrás. De cabeça para baixo, me aproximando da velocidade final, sorri ao avistar o pôr do sol pela segunda vez naquele dia. Após disparar na direção dos outros, eu deveria acionar os freios aéreos abrindo os braços – tínhamos um traje com asas de tecido presas dos pulsos aos quadris, que criavam uma área de resistência maior quando infladas por causa da alta velocidade.
Mas não tive a chance de fazer isso.
Ainda em queda livre, percebi que um dos novatos estava indo rápido demais. Talvez cair velozmente entre duas nuvens muito próximas o tenha assustado – e talvez ele tivesse lembrado que estava se movendo a mais de 200km/h na direção daquele planeta gigante lá embaixo, parcialmente encoberto pela escuridão da noite. Assim, em vez de se aproximar lentamente da formação, o rapaz estava quase se chocando contra o grupo. Agora todos os cinco saltadores estavam fora de controle.
Eles estavam muito próximos entre si. Um paraquedista em queda livre deixa uma poderosa corrente de baixa pressão atrás dele. Se outro saltador entra nesse rastro, instantaneamente aumenta sua velocidade e pode se chocar com a pessoa que está embaixo. Isso, por sua vez, pode fazer ambos os saltadores acelerarem e baterem em qualquer um que possa estar abaixo deles. Em suma, é uma receita para o desastre.
Virei meu corpo e me afastei do grupo para fugir da confusão. Procurei manobrar até me ver caindo direto no “ponto”, um local no solo sobre o qual deveríamos abrir o paraquedas para a descida vagarosa de dois minutos.
Olhei para cima e pude constatar, aliviado, que os saltadores estavam se afastando uns dos outros e desfazendo aquele agrupamento mortal.
Chuck estava entre eles, mas, para minha surpresa, ele começou a vir em minha direção e se posicionou embaixo de mim. Com todos os problemas que tinham acontecido, estávamos caindo bem mais rápido do que ele previra. Talvez pensasse que estava com sorte e, por isso, não precisava mais seguir as regras.
Ele não deve ter me visto. Este pensamento mal passou pela minha cabeça, quando vi o paraquedas-piloto – o pequeno paraquedas que comanda a abertura do paraquedas principal – de Chuck emergir de sua mochila. O paraquedas-piloto pegou um vento de 190km/h e veio direto na minha direção, puxando o principal logo atrás.
No momento em que vi o paraquedas-piloto de Chuck, tive uma fração de segundo para reagir, pois em pouquíssimo tempo eu me chocaria com o paraquedas principal que já se abria e muito provavelmente com o próprio Chuck. Na velocidade em que eu estava, se atingisse seu braço ou sua perna eu os deceparia, além de me envolver em um acidente fatal. Se eu me chocasse com ele diretamente, nossos corpos explodiriam.
Algumas pessoas dizem que as coisas se movem mais devagar em situações como essa, e elas estão certas. Minha mente assistiu aos microssegundos que se sucederam como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta.
Quando me dei conta de que o paraquedas de Chuck estava começando a abrir, colei os braços na lateral do corpo e me preparei para um mergulho de cabeça, inclinando levemente o quadril. A verticalidade fez com que minha velocidade aumentasse e a inclinação permitiu que meu corpo fizesse um desvio, funcionando como uma asa, o que me jogou para longe o suficiente de Chuck.
Passei por ele a quase 250km/h. Duvido que ele pudesse ver meu rosto, mas se o fizesse, veria uma expressão de assombro. De alguma forma, reagi instantaneamente a uma situação que, se tivesse tempo de avaliar, talvez fosse bem mais difícil de resolver.
E, no entanto, eu havia resolvido – e nós dois pousamos em segurança. Era como se, diante de uma circunstância que exigia mais do que uma capacidade normal de reação, meu cérebro
tivesse adquirido superpoderes.
Como eu havia feito isso? Ao longo dos meus mais de 20 anos de carreira em neurocirurgia – estudando o cérebro, observando seu funcionamento e realizando operações –, tive muitas oportunidades de refletir sobre essa questão. Até que finalmente concluí que o cérebro é um dispositivo mais extraordinário do que podemos supor.
Hoje compreendo que a verdadeira resposta a essa questão é muito mais profunda. Porém, tive que passar por uma completa metamorfose – tanto na minha vida quanto na minha visão de mundo – para vislumbrar essa resposta.
Este livro é sobre os acontecimentos que mudaram a minha maneira de ver aquele episódio. Eles me convenceram de que, por mais maravilhoso que seja o mecanismo do cérebro, não foi ele que salvou a minha vida naquele dia. O que entrou em ação quando o paraquedas de Chuck começou a abrir foi uma parte muito mais profunda de mim – uma parte que pôde se mover com tanta velocidade porque não estava atrelada ao tempo da maneira como o cérebro e o corpo estão.
Na verdade, era essa mesma parte que me fazia ficar tão nostálgico em relação ao céu quando criança. Ela não é apenas a parte mais inteligente de nós, mas é também a mais profunda, ainda que durante quase toda a minha vida adulta eu tenha sido incapaz de acreditar nela.
Mas hoje eu creio, e as páginas a seguir revelarão por quê.
Sou neurocirurgião.
Eu me graduei em química pela Universidade da Carolina do Norte no ano de 1976, na cidade de Chapel Hill, e obtive meu diploma de medicina pela Universidade Duke em 1980. Durante meus 11 anos de formação e de residência médica na Duke, no Hospital Geral de Massachusetts e em Harvard, me dediquei à neuroendocrinologia, o estudo das interações entre o sistema nervoso e o sistema endócrino (as glândulas que liberam os hormônios que governam a maior parte das atividades de nosso corpo). Também passei dois desses 11 anos investigando como os vasos sanguíneos em uma determinada região do cérebro reagem patologicamente quando há hemorragia decorrente de um aneurisma – uma síndrome conhecida como vasoespasmo cerebral.
Após concluir uma bolsa de estudos em neurocirurgia cerebrovascular em Newcastle-Upon-Tyne, no Reino Unido, passei 15 anos na faculdade de medicina de Harvard como professor adjunto de cirurgia, com especialização em neurocirurgia. Durante esse período operei inúmeros pacientes, muitos deles em condições cerebrais graves e correndo risco de vida.
A maioria das minhas pesquisas foi sobre o desenvolvimento de procedimentos técnicos avançados, como a radiocirurgia estereotáxica, uma técnica que permite aos cirurgiões direcionar precisamente os feixes de radiação para alvos específicos no cérebro sem afetar as áreas adjacentes. Além disso, ajudei a desenvolver os procedimentos neurocirúrgicos de ressonância magnética visando ao diagnóstico por imagem de complicações cerebrais difíceis de tratar, como tumores e distúrbios vasculares.
Ao longo desses anos fui autor ou coautor de mais de 150 artigos para revistas dirigidas a especialistas, e apresentei as conclusões de minhas pesquisas em mais de 200 conferências médicas ao redor do mundo.
Em resumo, dediquei minha vida inteiramente à ciência. Usar as ferramentas da medicina moderna para ajudar e curar pessoas e aprender sempre mais sobre os mecanismos do cérebro e do corpo humano eram a minha missão. Eu me sentia muito feliz por tê-la encontrado. E, acima de tudo, eu tinha uma bela esposa e dois filhos adoráveis. Por mais que estivesse casado com o trabalho de muitas maneiras, nunca negligenciei minha família, que sempre considerei a outra grande bênção da vida. Sob quase todos os aspectos eu era um homem de muita sorte, e sabia disso.
Em 10 de novembro de 2008, entretanto, aos 54 anos, a sorte pareceu me abandonar. Fui surpreendido por uma doença rara e fiquei em coma durante sete dias. Nesse período, todo o meu neocórtex – a superfície externa do cérebro, a parte que nos torna humanos – ficou paralisado. Inoperante. Completamente ausente.
Quando nosso cérebro está ausente, nós também ficamos ausentes. Como neurocirurgião, ouvi muitos relatos de pessoas que tiveram experiências estranhas, geralmente depois de sofrerem ataques cardíacos: histórias de viagem para lugares misteriosos e maravilhosos, de conversas com parentes mortos – e até de encontros com Deus.
Fascinante, sem dúvida. Mas tudo isso, em minha opinião, era pura fantasia. Afinal, o que provocava as experiências sobrenaturais que as pessoas relatavam com tanta frequência? Na verdade, a resposta não me interessava, mas eu acreditava que essas experiências tinham uma base cerebral. Toda consciência tem. Se não houver atividade cerebral, não há consciência.
Isto porque o cérebro é a máquina que produz a consciência. Quando a máquina falha, a consciência para. Por mais complicados e misteriosos que sejam os mecanismos cerebrais, em essência, a questão é bastante simples. Retire a tomada da TV e a imagem desaparece. O espetáculo acaba. Por mais que se esteja gostando dele.
Durante o coma, não é que meu cérebro trabalhasse de forma inadequada – ele simplesmente não trabalhava. Hoje, acredito que isso tenha sido responsável pela profundidade e intensidade da experiência de quase morte (EQM) que vivi nesse período. Muitas das histórias de EQM aconteceram com pessoas que ficaram com o coração parado por algum tempo. Nesses casos, o neocórtex está temporariamente inativo, mas em geral não tão danificado, o que faz com que o fluxo de sangue oxigenado seja restaurado por meio da ressuscitação cardiopulmonar ou da reativação da função cardíaca em torno de quatro minutos. Mas no meu caso o neocórtex estava fora de área. Eu estava conhecendo uma dimensão da consciência que existia completamente à parte das limitações de meu cérebro físico.
De certa forma, vivi uma avalanche de experiências de quase morte. Como neurocirurgião com décadas de pesquisa e prática, eu estava em melhor posição para avaliar não apenas a realidade, mas as implicações do que acontecera.
E essas implicações são extraordinárias. Minha experiência me mostrou que a morte do corpo e do cérebro não é o fim da consciência, e que a existência humana continua no além-túmulo. E, mais importante ainda, ela se perpetua sob o olhar de um Deus que nos ama e que se importa com cada um de nós, com o destino do Universo e de todos os seres contidos nele.
O lugar onde estive era real. Tão real a ponto de fazer a vida no aqui e agora parecer uma ilusão. Isso não significa, entretanto, que eu não valorize a vida que levo agora. Pelo contrário, prezo-a até mais do que antes. E o faço porque consigo enxergá-la em seu verdadeiro contexto.
A vida não é sem sentido, o problema é que não conseguimos perceber esse fato daqui – ao menos na maioria das vezes. O que aconteceu comigo quando estava em coma é, sem dúvida, a história mais importante que terei para contar daqui em diante. Mas é um relato muito delicado porque é estranho demais para a compreensão normal. Além disso, as conclusões são baseadas em uma análise médica da minha experiência e na minha familiaridade com os conceitos mais avançados da neurociência e dos estudos da consciência. Quando percebi a verdade por trás de minha jornada, soube que precisava contá-la. Fazer isso da melhor forma possível se tornou a principal tarefa da minha vida.
Isso não significa que eu tenha abandonado a atividade médica e a carreira de neurocirurgião. Mas agora que tive o privilégio de
entender que a vida não termina com a morte do corpo ou do
cérebro, encaro isto como minha obrigação, meu chamado: relatar às pessoas o que vi além do corpo e além desta terra.
Estou ávido para contar minha história às pessoas que já ouviram relatos semelhantes e se sentiram inclinadas a acreditar neles, embora não o conseguissem de todo.
É para essas pessoas, mais do que para quaisquer outras, que dirijo este livro e a mensagem nele contida. O que tenho a dizer é tão importante quanto qualquer coisa que alguém já tenha lhe contado – e é verdadeiro.